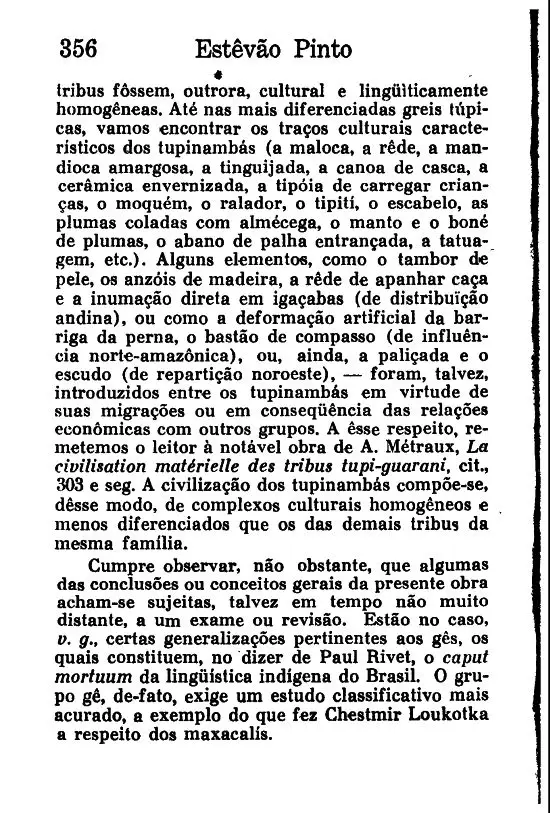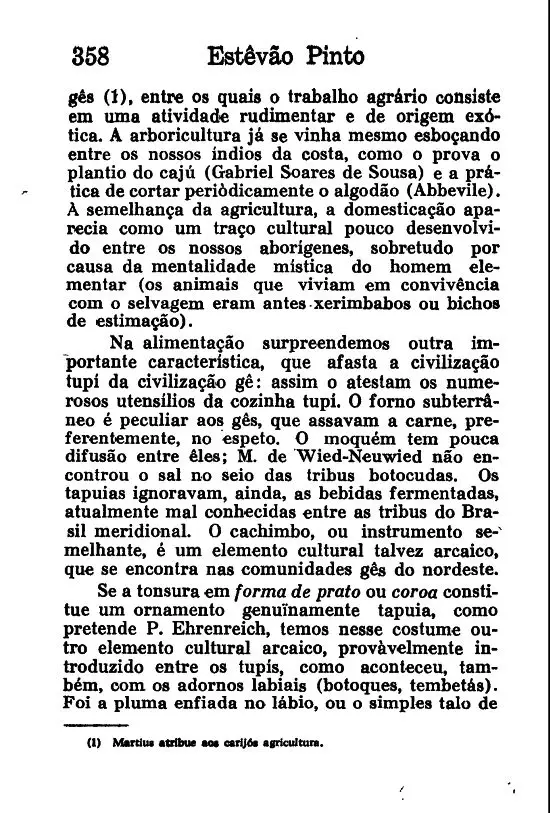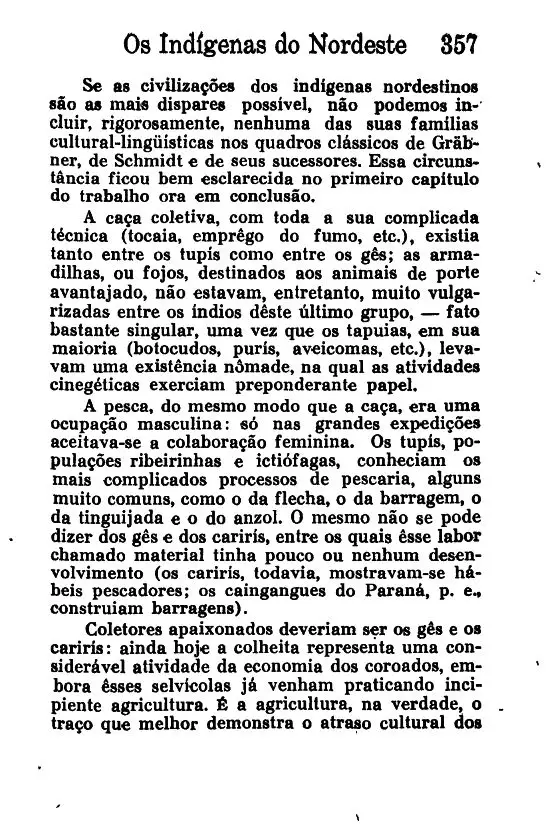Se as civilizações dos indígenas nordestinos são as mais díspares possível, não podemos incluir, rigorosamente, nenhuma das suas famílias cultural-linguísticas nos quadros clássicos de Grabner, de Schmidt e de seus sucessores. Essa circunstância ficou bem esclarecida no primeiro capítulo do trabalho ora em conclusão.
A caça coletiva, com toda a sua complicada técnica (tocaia, emprego do fumo, etc.), existia tanto entre os tupis como entre os jês; as armadilhas, ou fojos, destinados aos animais de porte avantajado, não estavam, entretanto, muito vulgarizadas entre os índios deste último grupo, — fato bastante singular, uma vez que os tapuias, em sua maioria (botocudos, puris, aveicomas, etc.), levavam uma existência nômade, na qual as atividades cinegéticas exerciam preponderante papel.
A pesca, do mesmo modo que a caça, era uma ocupação masculina: só nas grandes expedições aceitava-se a colaboração feminina. Os tupis, populações ribeirinhas e ictiófagas, conheciam os mais complicados processos de pescaria, alguns muito comuns, como o da flecha, o da barragem, o da tinguijada e o do anzol. O mesmo não se pode dizer dos jês e dos cariris, entre os quais esse labor chamado material tinha pouco ou nenhum desenvolvimento (os cariris, todavia, mostravam-se hábeis pescadores; os caingangues do Paraná, p. e., construíam barragens).
Coletores apaixonados deveriam ser os jês e os cariris: ainda hoje a colheita representa uma considerável atividade da economia dos coroados, embora esses silvícolas já venham praticando incipiente agricultura. É a agricultura, na verdade, o traço que melhor demonstra o atraso cultural dos