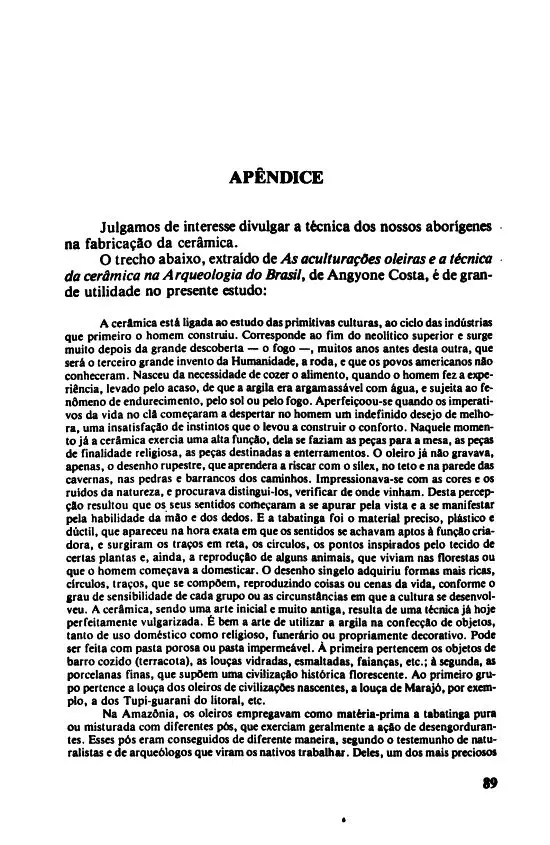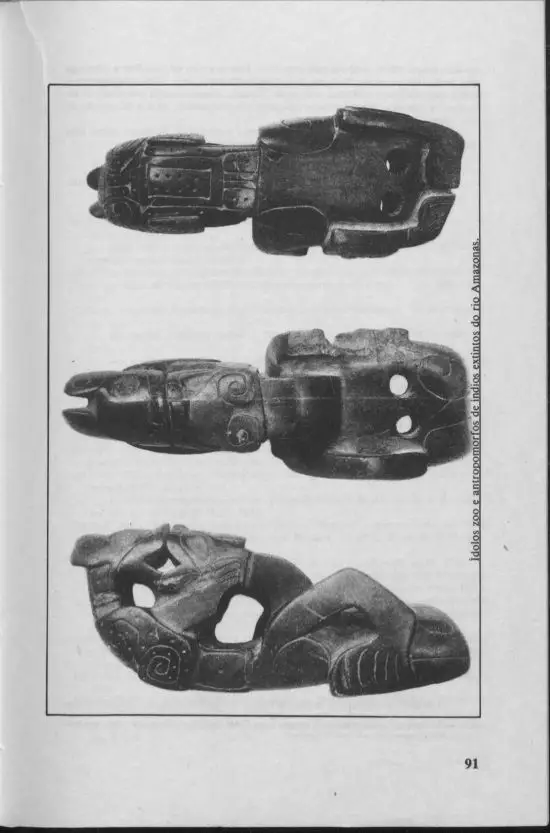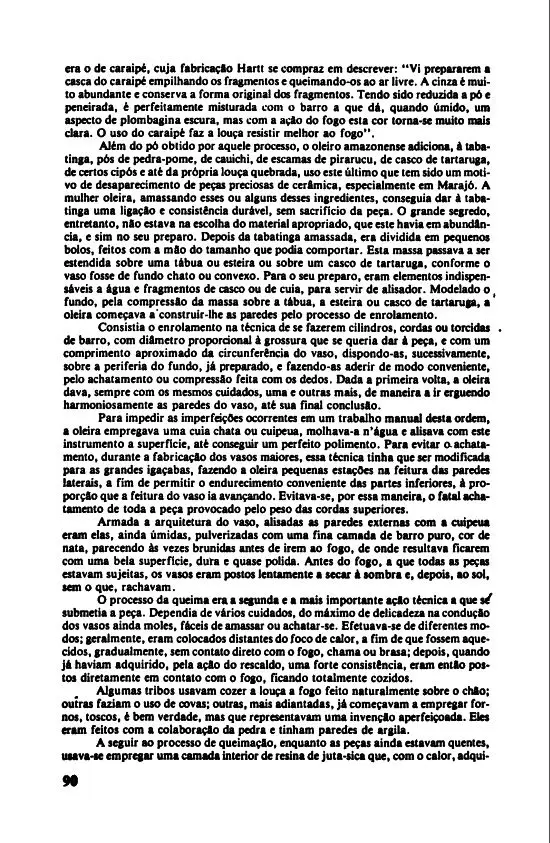era o de caraipé, cuja fabricação Hartt se compraz em descrever: 'Vi prepararem a casca do caraipé empilhando os fragmentos e queimando-os ao ar livre. A cinza é muito abundante e conserva a forma original dos fragmentos. Tendo sido reduzida a pó e peneirada, é perfeitamente misturada com o barro a que dá, quando úmido, um aspecto de plombagina escura, mas com a ação do fogo esta cor torna-se muito mais clara. O uso do caraipé faz a louça resistir melhor ao fogo.'
Além do pó obtido por aquele processo, o oleiro amazonense adiciona, à tabatinga, pós de pedra-pomes, de cauichi, de escamas de pirarucu, de casco de tartaruga, de certos cipós e até da própria louça quebrada, uso este último que tem sido um motivo de desaparecimento de peças preciosas de cerâmica, especialmente em Marajó. A mulher oleira, amassando esses ou alguns desses ingredientes, conseguia dar à tabatinga uma ligação e consistência durável, sem sacrifício da peça. O grande segredo, entretanto, não estava na escolha do material apropriado, que este havia em abundância, e sim no seu preparo. Depois da tabatinga amassada, era dividida em pequenos bolos, feitos com a mão do tamanho que podia comportar. Esta massa passava a ser estendida sobre uma tábua ou esteira ou sobre um casco de tartaruga, conforme o vaso fosse de fundo chato ou convexo. Para o seu preparo, eram elementos indispensáveis a água e fragmentos de casco ou de cuia, para servir de alisador. Modelado o fundo, pela compressão da massa sobre a tábua, a esteira ou casco de tartaruga, a oleira começava a construir-lhe as paredes pelo processo de enrolamento.
Consistia o enrolamento na técnica de se fazerem cilindros, cordas ou torcidas de barro, com diâmetro proporcional à grossura que se queria dar à peça, e com um comprimento aproximado da circunferência do vaso, dispondo-as, sucessivamente, sobre a periferia do fundo, já preparado, e fazendo-as aderir de modo conveniente, pelo achatamento ou compressão feita com os dedos. Dada a primeira volta, a oleira dava, sempre com os mesmos cuidados, uma e outras mais, de maneira a ir erguendo harmoniosamente as paredes do vaso, até sua final conclusão.
Para impedir as imperfeições ocorrentes em um trabalho manual desta ordem, a oleira empregava uma cuia chata ou cuipeua, molhava-a n'água e alisava com este instrumento a superfície, até conseguir um perfeito polimento. Para evitar a achatamento, durante a fabricação dos vasos maiores, essa técnica tinha que ser modificada para as grandes igaçabas, fazendo a oleira pequenas estações na feitura das paredes laterais, a fim de permitir o endurecimento conveniente das partes inferiores, à proporção que a feitura do vaso ia avançando. Evitava-se, por essa maneira, o fatal achatamento de toda a peça provocado pelo peso das cordas superiores.
Armada a arquitetura do vaso, alisadas as paredes externas com a cuipeua, eram elas, ainda úmidas, pulverizadas com uma fina camada de barro puro, cor de nata, parecendo às vezes brunidas antes de irem ao fogo, de onde resultava ficarem com uma bela superfície, dura e quase polida. Antes do fogo, a que todas as peças estavam sujeitas, os vasos eram postos lentamente a secar à sombra e, depois, ao sol, sem o que, rachavam.
O processo da queima era a segunda e a mais importante ação técnica a que se submetia a peça. Dependia de vários cuidados, do máximo de delicadeza na condução dos vasos ainda moles, fáceis de amassar ou achatar-se. Efetuava-se de diferentes modos; geralmente, eram colocados distantes do foco de calor, a fim de que fossem aquecidos, gradualmente, sem contato direto com o fogo, chama ou brasa; depois, quando já haviam adquirido, pela ação do rescaldo, uma forte consistência, eram então postos diretamente em contato com o fogo, ficando totalmente cozidos.
Algumas tribos usavam cozer a louça a fogo feito naturalmente sobre o chão; outras faziam o uso de covas; outras, mais adiantadas, já começavam a empregar fornos, toscos, é bem verdade, mas que representavam uma invenção aperfeiçoada. Eles eram feitos com a colaboração da pedra e tinham paredes de argila.
A seguir ao processo de queimação, enquanto as peças ainda estavam quentes, usava-se empregar uma camada interior de resina de juta-sica que, com o calor, adquiria