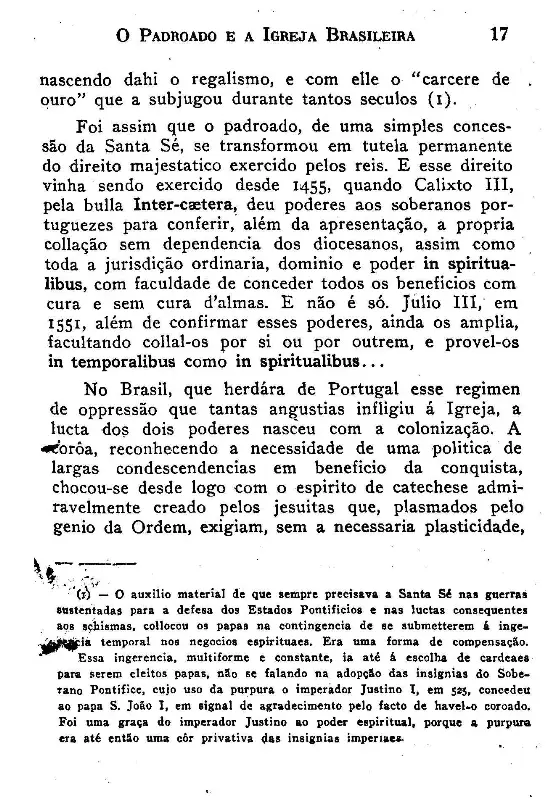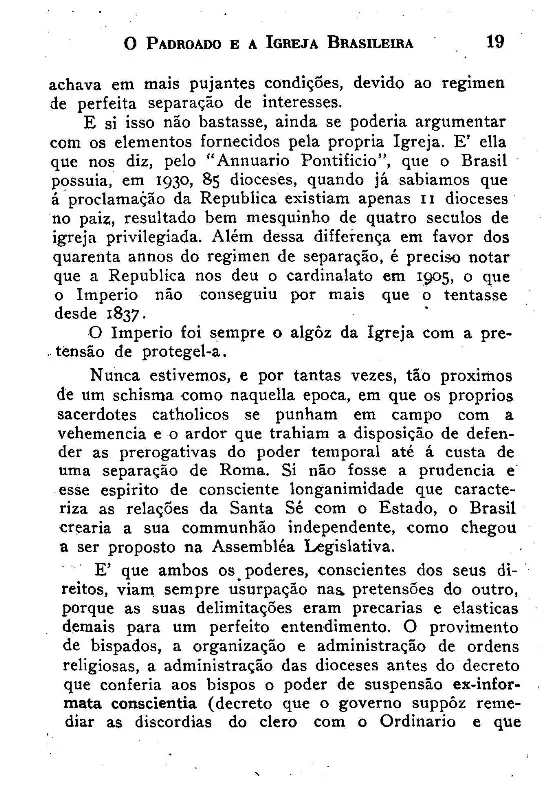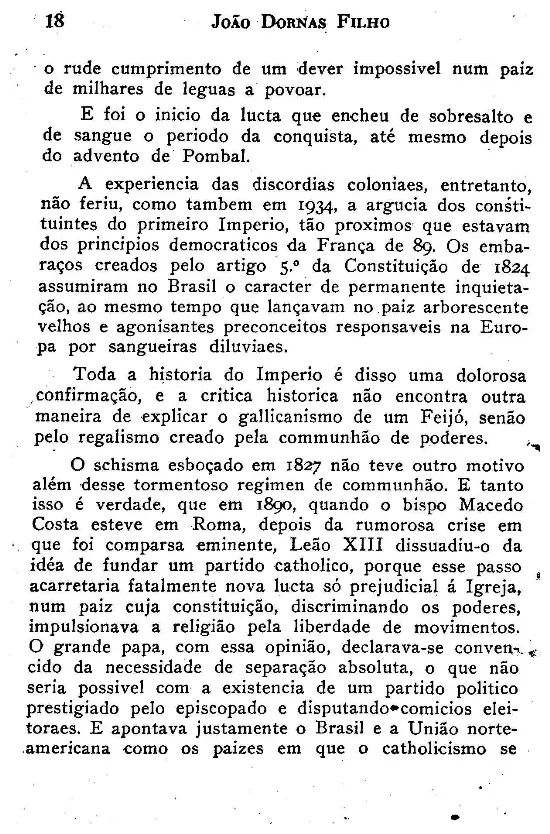o rude cumprimento de um dever impossível num país de milhares de léguas a povoar.
E foi o início da luta que encheu de sobressalto e de sangue o período da conquista, até mesmo depois do advento de Pombal.
A experiência das discórdias coloniais, entretanto, não feriu, como também em 1934, a argúcia dos constituintes do Primeiro Império, tão próximos que estavam dos princípios democráticos da França de 1789. Os embaraços criados pelo artigo 5° da Constituição de 1824 assumiram no Brasil o caráter de permanente inquietação, ao mesmo tempo que lançavam no país arborescente velhos e agonizantes preconceitos responsáveis na Europa por sangueiras diluviais.
Toda a história do Império é disso uma dolorosa confirmação, e a crítica histórica não encontra outra maneira de explicar o galicanismo de um Feijó, senão pelo regalismo criado pela comunhão de poderes.
O cisma esboçado em 1827 não teve outro motivo além desse tormentoso regime de comunhão. E tanto isso é verdade, que em 1890, quando o bispo Macedo Costa esteve em Roma, depois da rumorosa crise em que foi comparsa eminente, Leão XIII dissuadiu-o da ideia de fundar um partido católico, porque esse passo acarretaria fatalmente nova luta só prejudicial à Igreja, num país cuja constituição, discriminando os poderes, impulsionava a religião pela liberdade de movimentos. O grande papa, com essa opinião, declarava-se convencido da necessidade de separação absoluta, o que não seria possível com a existência de um partido político prestigiado pelo episcopado e disputando comícios eleitorais. E apontava justamente o Brasil e a União norte-americana como os países em que o catolicismo se