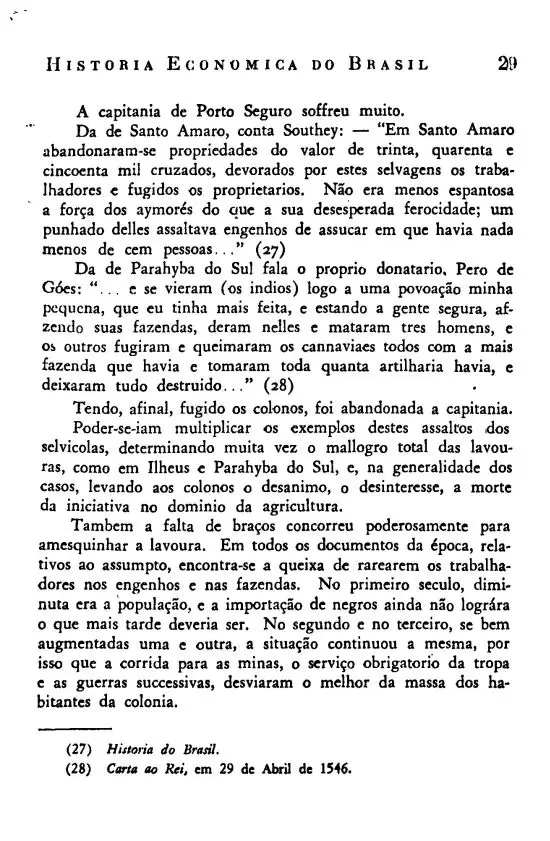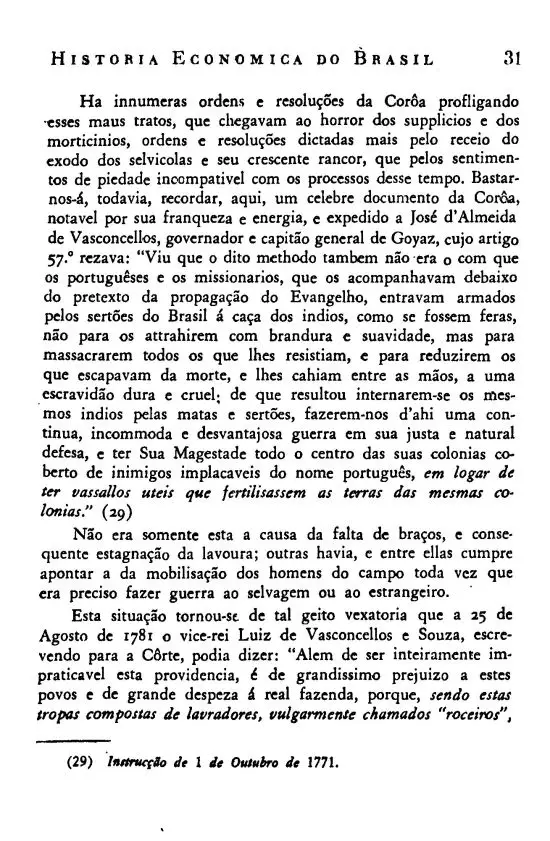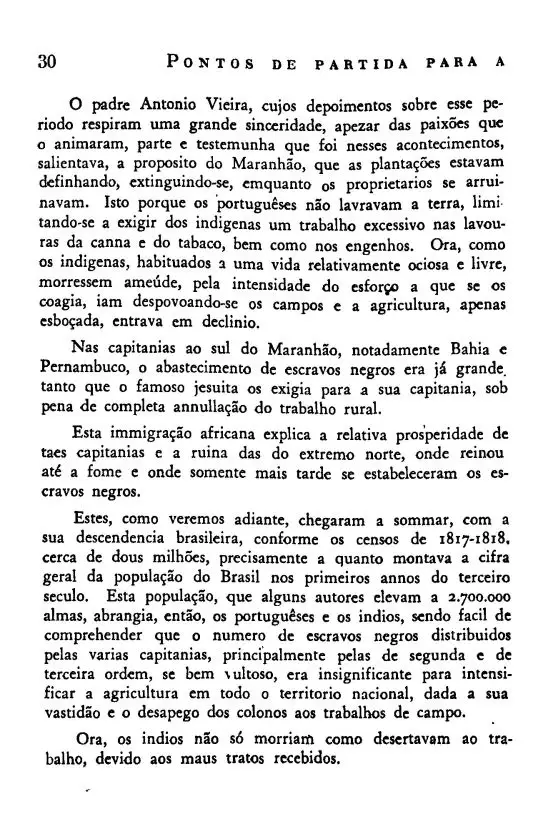O padre Antônio Vieira, cujos depoimentos sobre esse período respiram uma grande sinceridade, apesar das paixões que o animaram, parte e testemunha que foi nesses acontecimentos, salientava, a propósito do Maranhão, que as plantações estavam definhando, extinguindo-se, enquanto os proprietários se arruinavam. Isto porque os portugueses não lavravam a terra, limitando-se a exigir dos indígenas um trabalho excessivo nas lavouras da cana e do tabaco, bem como nos engenhos. Ora, como os indígenas, habituados a uma vida relativamente ociosa e livre, morressem amiúde, pela intensidade do esforço a que se os coagia, iam despovoando-se os campos e a agricultura, apenas esboçada, entrava em declínio.
Nas capitanias ao sul do Maranhão, notadamente Bahia e Pernambuco, o abastecimento de escravos negros era já grande, tanto que o famoso jesuíta os exigia para a sua capitania, sob pena de completa anulação do trabalho rural.
Esta imigração africana explica a relativa prosperidade de tais capitanias e a ruína das do extremo norte, onde reinou até a fome e onde somente mais tarde se estabeleceram os escravos negros.
Estes, como veremos adiante, chegaram a somar, com a sua descendência brasileira, conforme os censos de 1817-1818, cerca de dois milhões, precisamente a quanto montava a cifra geral da população do Brasil nos primeiros anos do terceiro século. Esta população, que alguns autores elevam a 2.700.000 almas, abrangia, então, os portugueses e os índios, sendo fácil de compreender que o número de escravos negros distribuídos pelas várias capitanias, principalmente pelas de segunda e de terceira ordem, se bem vultoso, era insignificante para intensificar a agricultura em todo o território nacional, dada a sua vastidão e o desapego dos colonos aos trabalhos de campo.
Ora, os índios não só morriam como desertavam ao trabalho, devido aos maus tratos recebidos.