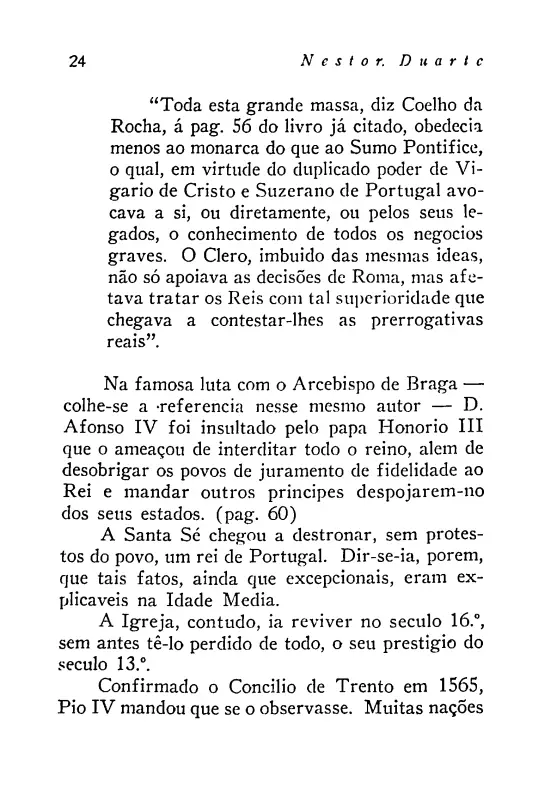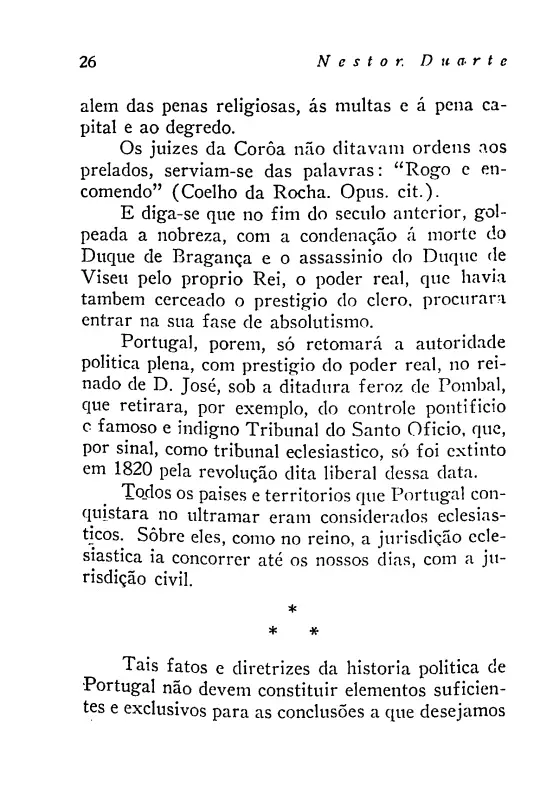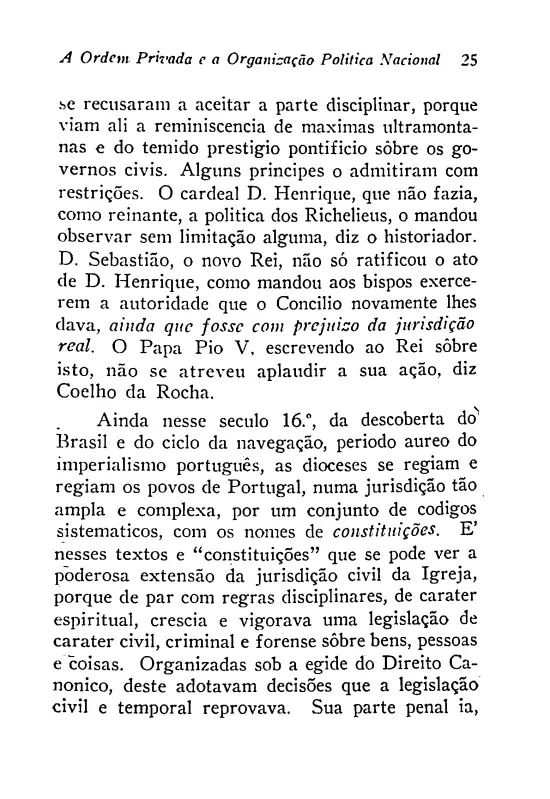se recusaram a aceitar a parte disciplinar, porque viam ali a reminiscência de máximas ultramontanas e do temido prestígio pontifício sobre os governos civis. Alguns príncipes o admitiram com restrições. O Cardeal D. Henrique, que não fazia, como reinante, a política dos Richelieus, o mandou observar sem limitação alguma, diz o historiador. D. Sebastião, o novo Rei, não só ratificou o ato de D. Henrique, como mandou aos bispos exercerem a autoridade que o Concílio novamente lhes dava, ainda que fosse com prejuízo da jurisdição real. O Papa Pio V, escrevendo ao Rei sobre isto, não se atreveu aplaudir a sua ação, diz Coelho da Rocha.
Ainda nesse século XVI, da descoberta do Brasil e do ciclo da navegação, período áureo do imperialismo português, as dioceses se regiam e regiam os povos de Portugal, numa jurisdição tão ampla e complexa, por um conjunto de códigos sistemáticos, com os nomes de constituições. É nesses textos e constituições que se pode ver a poderosa extensão da jurisdição civil da Igreja, porque de par com regras disciplinares, de caráter espiritual, crescia e vigorava uma legislação de caráter civil, criminal e forense sobre bens, pessoas e coisas. Organizadas sob a égide do Direito Canônico, deste adotavam decisões que a legislação civil e temporal reprovava. Sua parte penal ia,