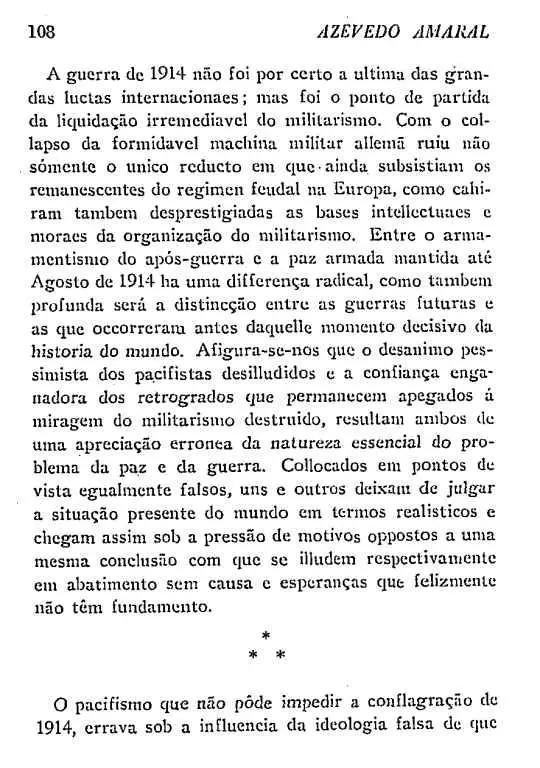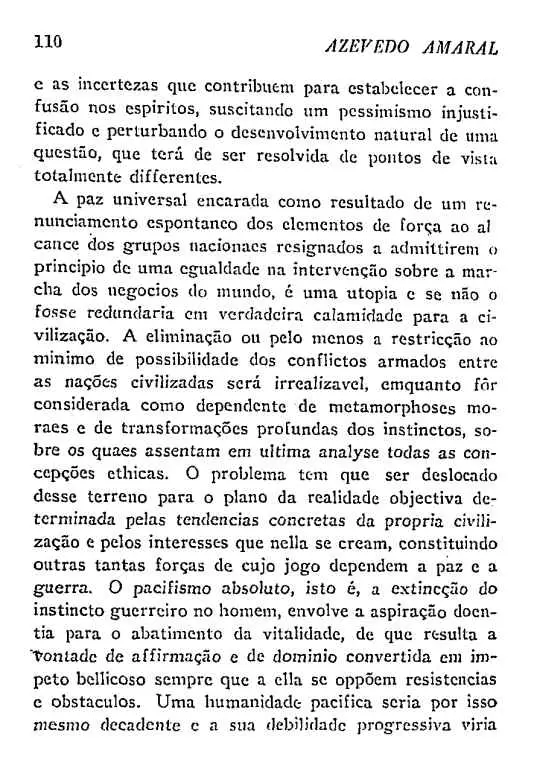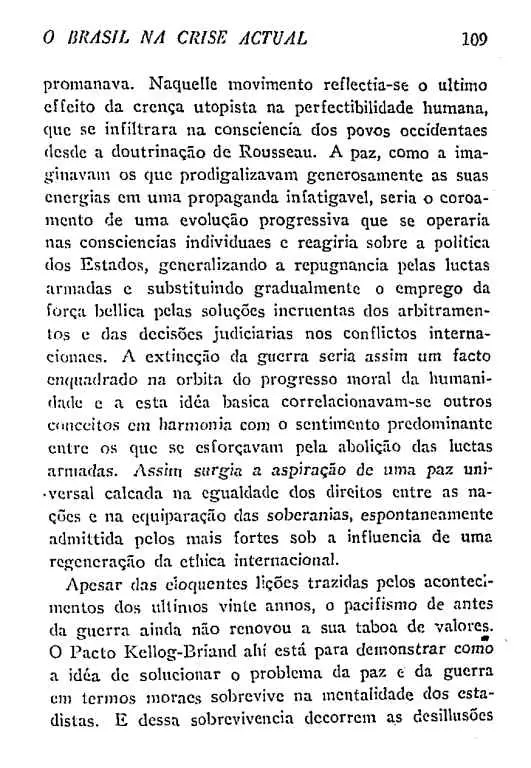promanava. Naquele movimento refletia-se o último efeito da crença utopista na perfectibilidade humana, que se infiltrara na consciência dos povos ocidentais desde a doutrinação de Rousseau. A paz, como a imaginavam os que prodigalizavam generosamente as suas energias em uma propaganda infatigável, seria o coroamento de uma evolução progressiva que se operaria nas consciências individuais e reagiria sobre a política dos Estados, generalizando a repugnância pelas lutas armadas e substituindo gradualmente o emprego da força bélica pelas soluções incruentas dos arbitramentos e das decisões judiciárias nos conflitos internacionais. A extinção da guerra seria assim um fato enquadrado na órbita do progresso moral da humanidade e a esta ideia básica correlacionavam-se outros conceitos em harmonia com o sentimento predominante entre os que se esforçavam pela abolição das lutas armadas. Assim surgia a aspiração de uma paz universal calcada na igualdade dos direitos entre as nações e na equiparação das soberanias, espontaneamente admitida pelos mais fortes sob a influência de uma regeneração da ética internacional.
Apesar das eloquentes lições trazidas pelos acontecimentos dos últimos 20 anos, o pacifismo de antes da guerra ainda não renovou a sua tábua de valores. O Pacto Kellog-Briand aí está para demonstrar como a ideia de solucionar o problema da paz e da guerra em termos morais sobrevive na mentalidade dos estadistas. E dessa sobrevivência decorrem as desilusões