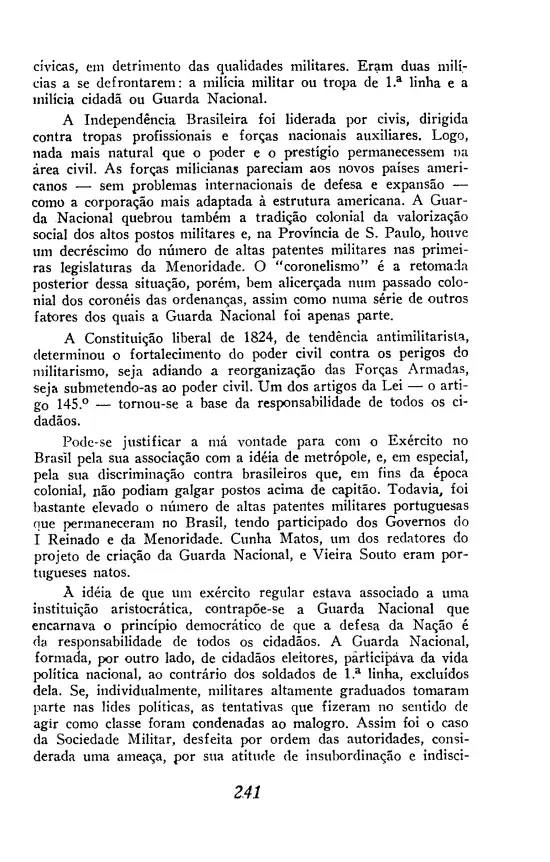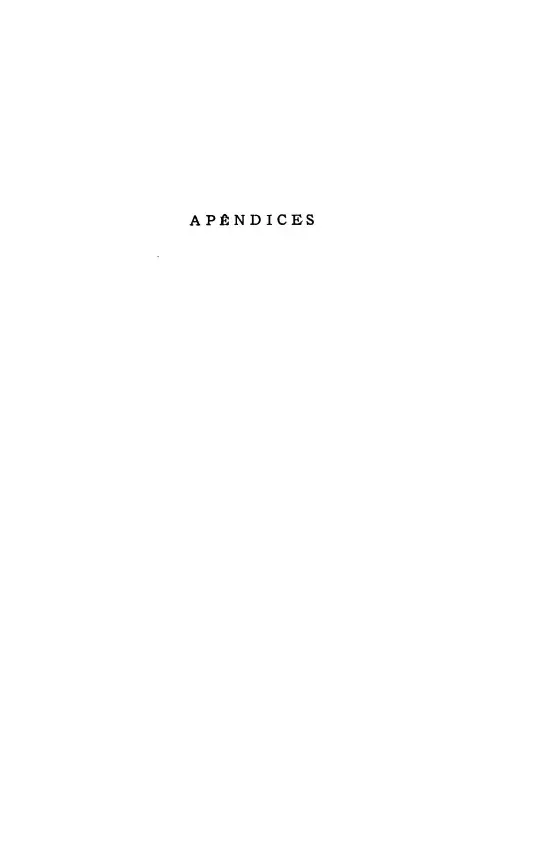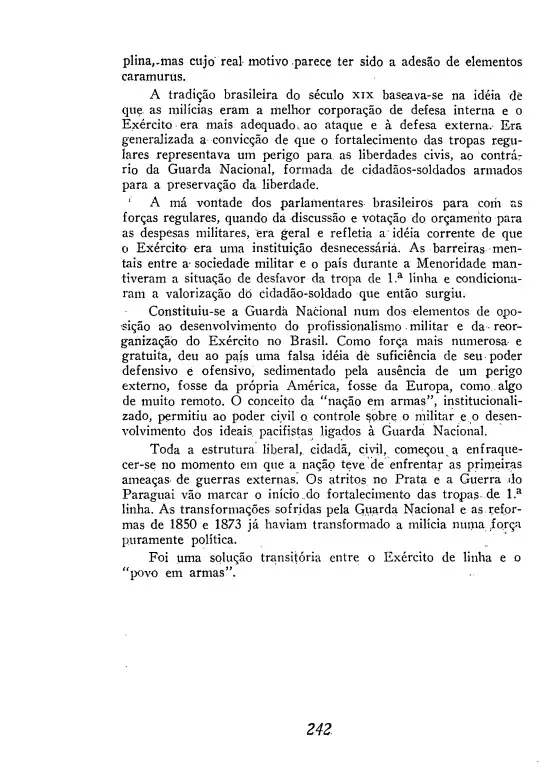mas cujo real motivo parece ter sido a adesão de elementos caramurus.
A tradição brasileira do século XIX baseava-se na ideia de que as milícias eram a melhor corporação de defesa interna e o Exército era mais adequado ao ataque e à defesa externa. Era generalizada a convicção de que o fortalecimento das tropas regulares representava um perigo para as liberdades civis, ao contrário da Guarda Nacional, formada de cidadãos-soldados armados para a preservação da liberdade.
A má vontade dos parlamentares brasileiros para com as forças regulares, quando da discussão e votação do orçamento para as despesas militares, era geral e refletia a ideia corrente de que o Exército era uma instituição desnecessária. As barreiras mentais entre a sociedade militar e o país durante a Menoridade mantiveram a situação de desfavor da tropa de 1.ª linha e condicionaram a valorização do cidadão-soldado que então surgiu.
Constituiu-se a Guarda Nacional num dos elementos de oposição ao desenvolvimento do profissionalismo militar e da reorganização do Exército no Brasil. Como força mais numerosa e gratuita, deu ao país uma falsa ideia de suficiência de seu poder defensivo e ofensivo, sedimentado pela ausência de um perigo externo, fosse da própria América, fosse da Europa, como algo de muito remoto. O conceito da "nação em armas", institucionalizado, permitiu ao poder civil o controle sobre o militar e o desenvolvimento dos ideais pacifistas ligados à Guarda Nacional.
Toda a estrutura liberal, cidadã, civil, começou, a enfraquecer-se no momento em que a nação teve de enfrentar as primeiras ameaças de guerras externas. Os atritos no Prata e a Guerra do Paraguai vão marcar o início do fortalecimento das tropas de 1.ª linha. As transformações sofridas pela Guarda Nacional e as reformas de 1850 e 1873 já haviam transformado a milícia numa força puramente política.
Foi uma solução transitória entre o Exército de linha e o "povo em armas".