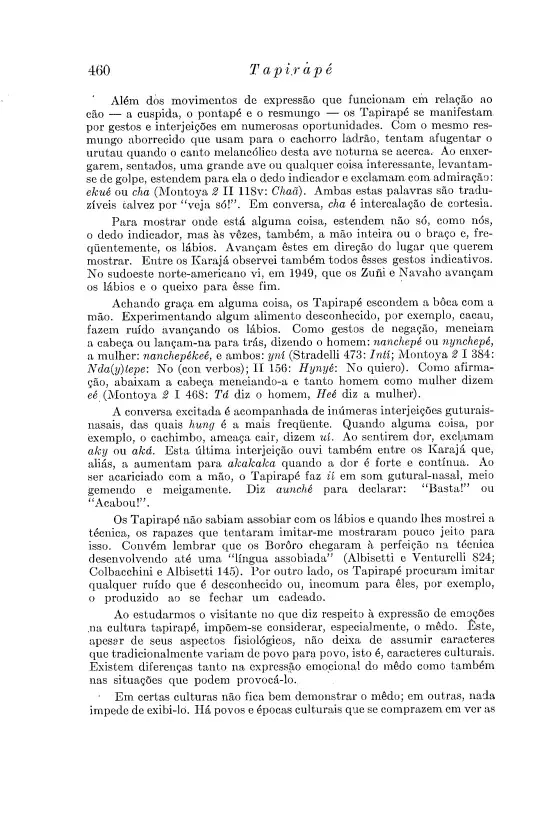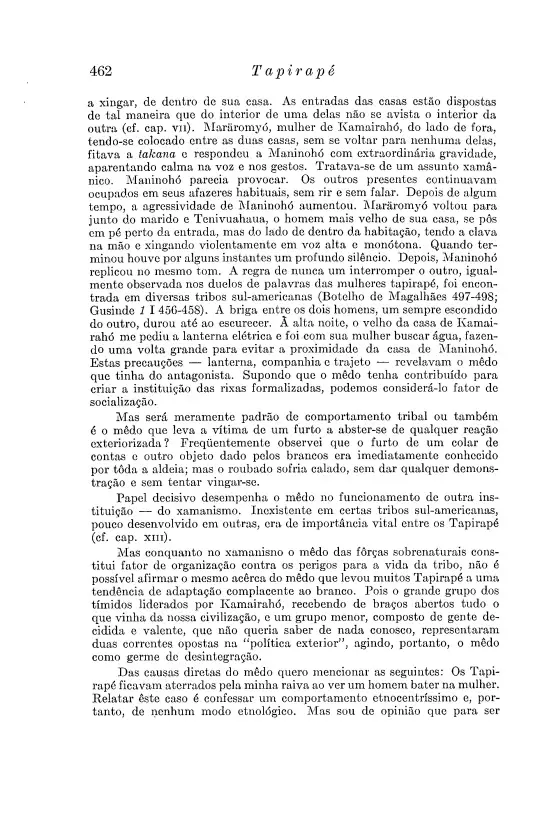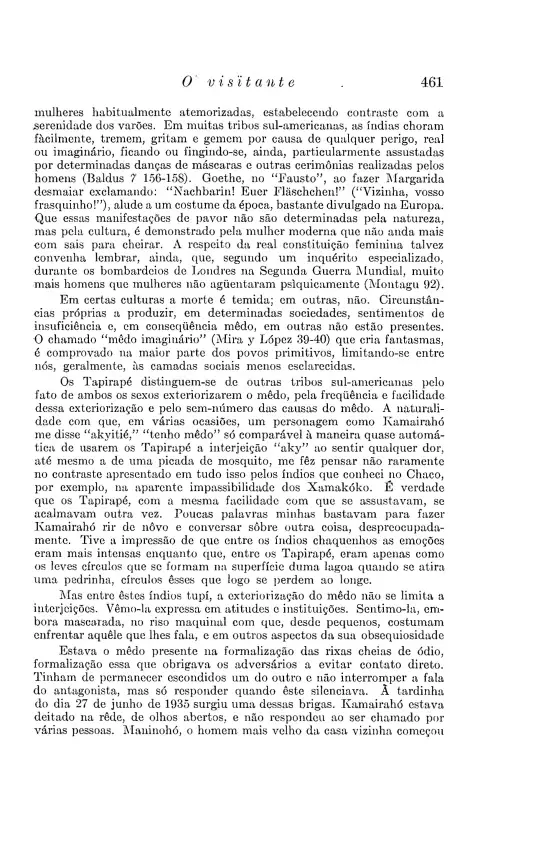mulheres habitualmente atemorizadas, estabelecendo contraste com a serenidade dos varões. Em muitas tribos sul-americanas, as índias choram facilmente, tremem, gritam e gemem por causa de qualquer perigo, real ou imaginário, ficando ou fingindo-se, ainda, particularmente assustadas por determinadas danças de máscaras e outras cerimônias realizadas pelos homens (Baldus 7 156-158). Goethe, no Fausto, ao fazer Margarida desmaiar exclamando: "Nachbarin! Euer Fläschchen!" ("Vizinha, vosso frasquinho!"), alude a um costume da época, bastante divulgado na Europa. Que essas manifestações de pavor não são determinadas pela natureza, mas pela cultura, é demonstrado pela mulher moderna que não anda mais com sais para cheirar. A respeito da real constituição feminina talvez convenha lembrar, ainda, que, segundo um inquérito especializado, durante os bombardeios de Londres na Segunda Guerra Mundial, muito mais homens que mulheres não aguentaram psiquicamente (Montagu 92).
Em certas culturas a morte é temida; em outras, não. Circunstâncias próprias a produzir, em determinadas sociedades, sentimentos de insuficiência e, em consequência medo, em outras não estão presentes. O chamado "medo imaginário" (Mira y López 39-40) que cria fantasmas, é comprovado na maior parte dos povos primitivos, limitando-se entre nós, geralmente, às camadas sociais menos esclarecidas.
Os tapirapé distinguem-se de outras tribos sul-americanas pelo fato de ambos os sexos exteriorizarem o medo, pela frequência e facilidade dessa exteriorização e pelo sem-número das causas do medo. A naturalidade com que, em várias ocasiões, um personagem como Kamairahó me disse "akyitié", "tenho medo" só comparável à maneira quase automática de usarem os tapirapé a interjeição "aky" ao sentir qualquer dor, até mesmo a de uma picada de mosquito, me fez pensar não raramente no contraste apresentado em tudo isso pelos índios que conheci no Chaco, por exemplo, na aparente impassibilidade dos chamacoco. É verdade que os tapirapé, com a mesma facilidade com que se assustavam, se acalmavam outra vez. Poucas palavras minhas bastavam para fazer Kamairahó rir de novo e conversar sobre outra coisa, despreocupadamente. Tive a impressão de que entre os índios chaquenhos as emoções eram mais intensas enquanto que, entre os tapirapé, eram apenas como os leves círculos que se formam na superfície duma lagoa quando se atira uma pedrinha, círculos esses que logo se perdem ao longe.
Mas entre estes índios tupi, a exteriorização do medo não se limita a interjeições. Vemo-la expressa em atitudes e instituições. Sentimo-la, embora mascarada, no riso maquinal com que, desde pequenos, costumam enfrentar aquele que lhes fala, e em outros aspectos da sua obsequiosidade.
Estava o medo presente na formalização das rixas cheias de ódio, formalização essa que obrigava os adversários a evitar contato direto. Tinham de permanecer escondidos um do outro e não interromper a fala do antagonista, mas só responder quando este silenciava. À tardinha do dia 27 de junho de 1935 surgiu uma dessas brigas. Kamairahó estava deitado na rede, de olhos abertos, e não respondeu ao ser chamado por várias pessoas. Maninohó, o homem mais velho da casa vizinha começou