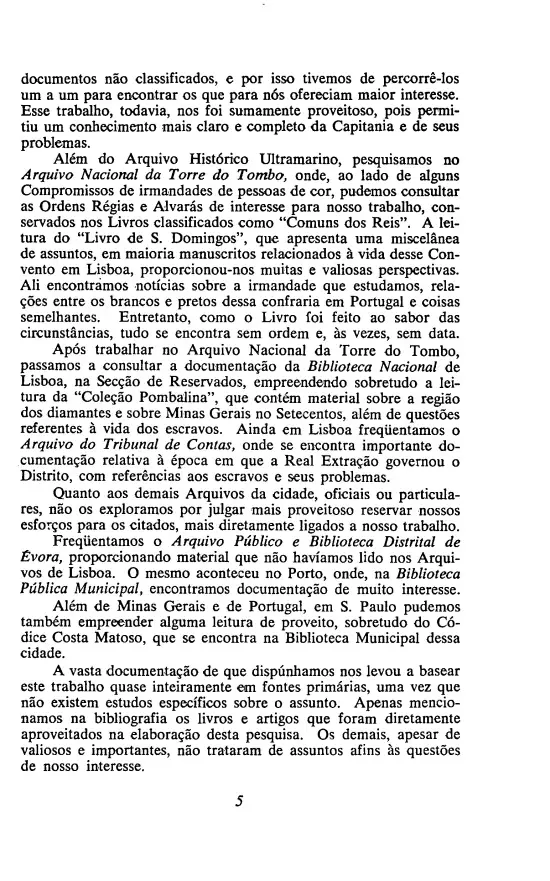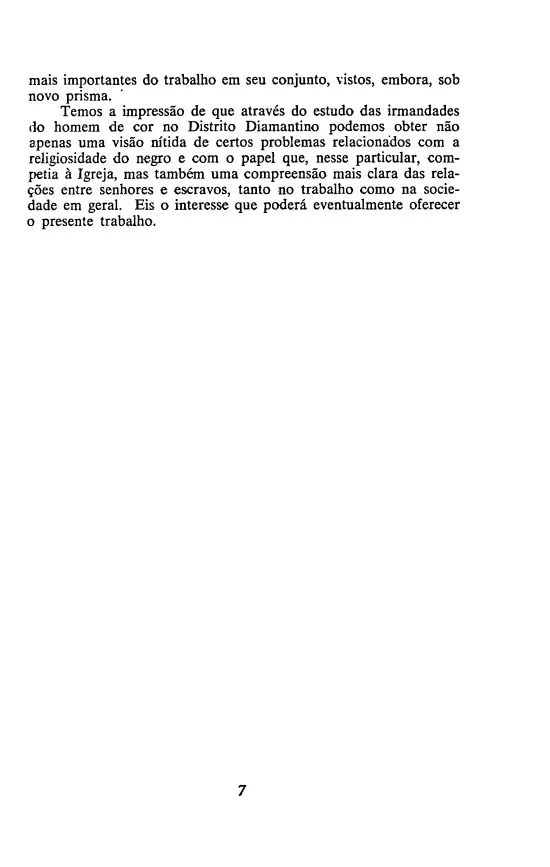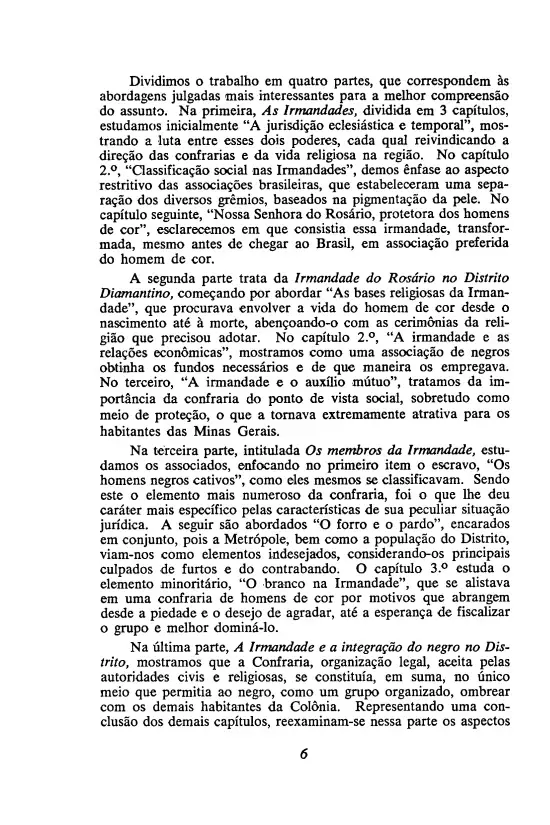Dividimos o trabalho em quatro partes, que correspondem às abordagens julgadas mais interessantes para a melhor compreensão do assunto. Na primeira, "As Irmandades", dividida em três capítulos, estudamos inicialmente "A jurisdição eclesiástica e temporal", mostrando a luta entre esses dois poderes, cada qual reivindicando a direção das confrarias e da vida religiosa na região. No capítulo 2º, "Classificação social nas Irmandades", demos ênfase ao aspecto restritivo das associações brasileiras, que estabeleceram uma separação dos diversos grêmios, baseados na pigmentação da pele. No capítulo seguinte, "Nossa Senhora do Rosário, protetora dos homens de cor", esclarecemos em que consistia essa irmandade, transformada, mesmo antes de chegar ao Brasil, em associação preferida do homem de cor.
A segunda parte trata da "Irmandade do Rosário no Distrito Diamantino", começando por abordar "As bases religiosas da Irmandade", que procurava envolver a vida do homem de cor desde o nascimento até à morte, abençoando-o com as cerimônias da religião que precisou adotar. No capítulo 2º, "A irmandade e as relações econômicas", mostramos como uma associação de negros obtinha os fundos necessários e de que maneira os empregava. No terceiro, "A irmandade e o auxílio mútuo", tratamos da importância da confraria do ponto de vista social, sobretudo como meio de proteção, o que a tornava extremamente atrativa para os habitantes das Minas Gerais.
Na terceira parte, intitulada "Os membros da Irmandade", estudamos os associados, enfocando no primeiro item o escravo, "Os homens negros cativos", como eles mesmos se classificavam. Sendo este o elemento mais numeroso da confraria, foi o que lhe deu caráter mais específico pelas características de sua peculiar situação jurídica. A seguir são abordados "O forro e o pardo", encarados em conjunto, pois a Metrópole, bem como a população do Distrito, viam-nos como elementos indesejados, considerando-os principais culpados de furtos e do contrabando. O capítulo 3º estuda o elemento minoritário, "O branco na Irmandade", que se alistava em uma confraria de homens de cor por motivos que abrangem desde a piedade e o desejo de agradar, até a esperança de fiscalizar o grupo e melhor dominá-lo.
Na última parte, "A Irmandade e a integração do negro no Distrito", mostramos que a Confraria, organização legal, aceita pelas autoridades civis e religiosas, se constituía, em suma, no único meio que permitia ao negro, como um grupo organizado, ombrear com os demais habitantes da Colônia. Representando uma conclusão dos demais capítulos, reexaminam-se nessa parte os aspectos