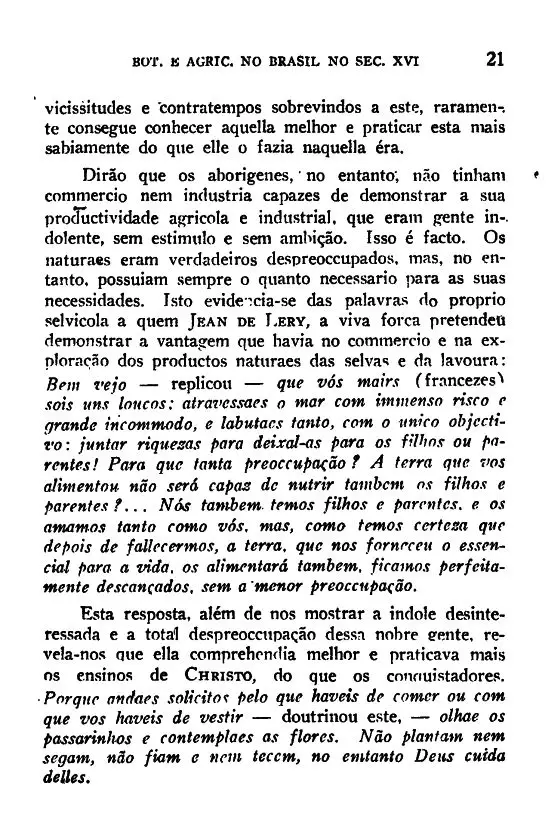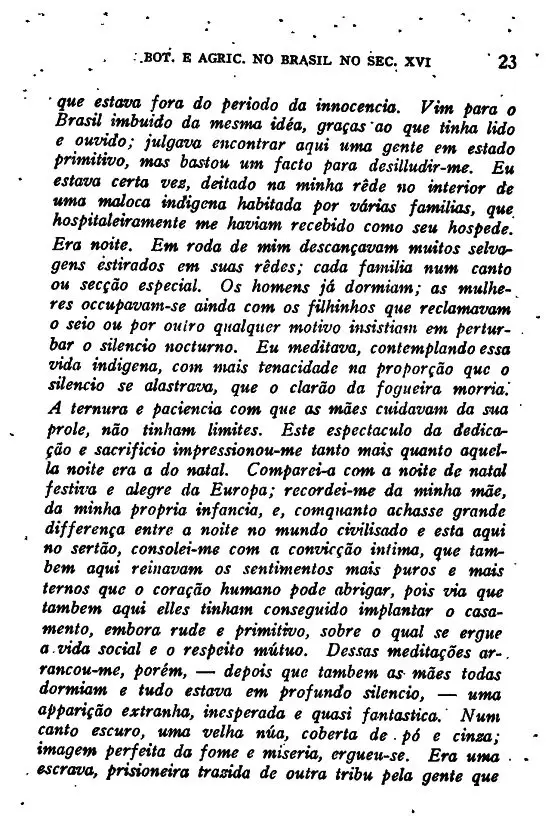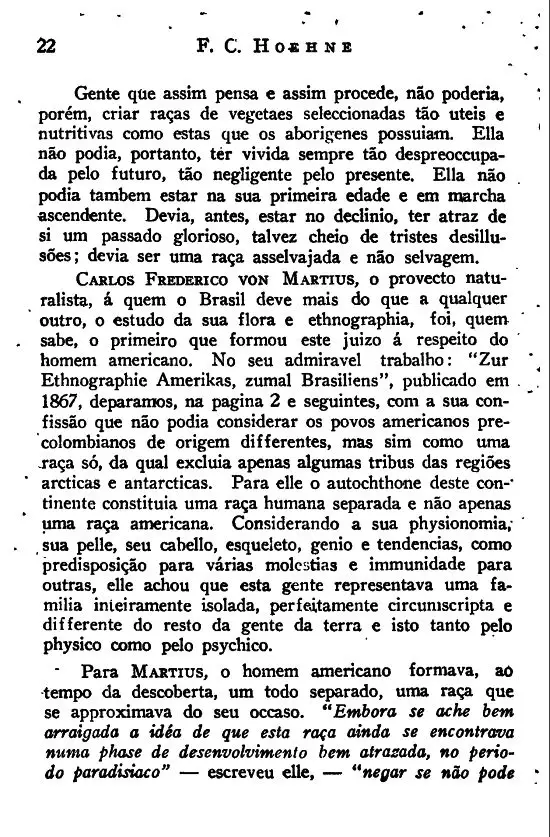Gente que assim pensa e assim procede, não poderia, porém, criar raças de vegetais selecionadas tão úteis e nutritivas como estas que os aborígenes possuíam. Ela não podia, portanto, ter vivido sempre tão despreocupada pelo futuro, tão negligente pelo presente. Ela não podia também estar na sua primeira idade e em marcha ascendente. Devia, antes, estar no declínio, ter atrás de si um passado glorioso, talvez cheio de tristes desilusões; devia ser uma raça asselvajada e não selvagem.
Carlos Frederico Von Martius, o provecto naturalista, a quem o Brasil deve mais do que a qualquer outro, o estudo da sua flora e etnografia, foi, quem sabe, o primeiro que formou este juízo a respeito do homem americano. No seu admirável trabalho: Zur Ethnographic Amerikas, zumal Brasiliens, publicado em 1867, deparamos, na página dois e seguintes, com a sua confissão que não podia considerar os povos americanos pré-colombianos de origem diferentes, mas sim como uma raça só, da qual excluía apenas algumas tribos das regiões árticas e antárticas. Para ele o autóctone deste continente constituía uma raça humana separada e não apenas uma raça americana. Considerando a sua fisionomia; sua pele, seu cabelo, esqueleto, gênio e tendências, como predisposição para várias moléstias e imunidade para outras, ele achou que esta gente representava uma família inteiramente isolada, perfeitamente circunscrita e diferente do resto da gente da terra e isto tanto pelo físico como pelo psíquico.
Para Martius, o homem americano formava, ao tempo da descoberta, um todo separado, uma raça que se aproximava do seu ocaso. "Embora se ache bem arraigada a ideia de que esta raça ainda se encontrava numa fase de desenvolvimento bem atrasada, no período paradisíaco" - escreveu ele - "negar se não pode