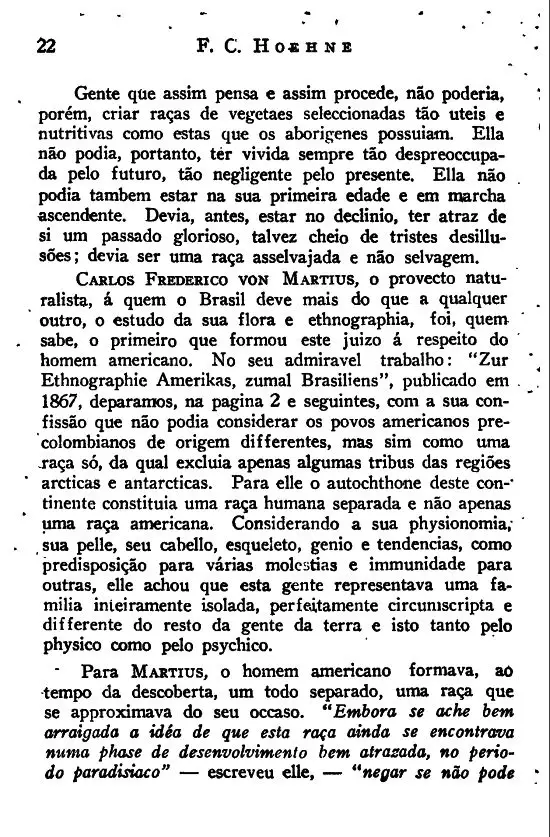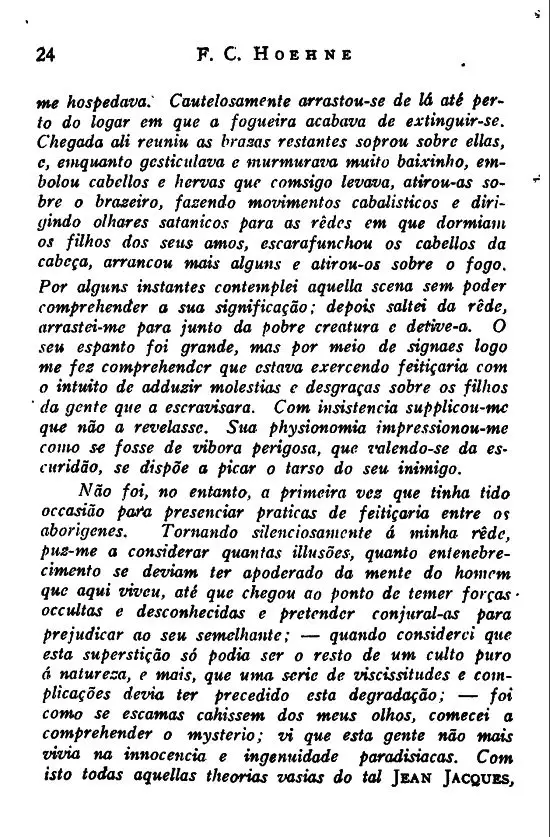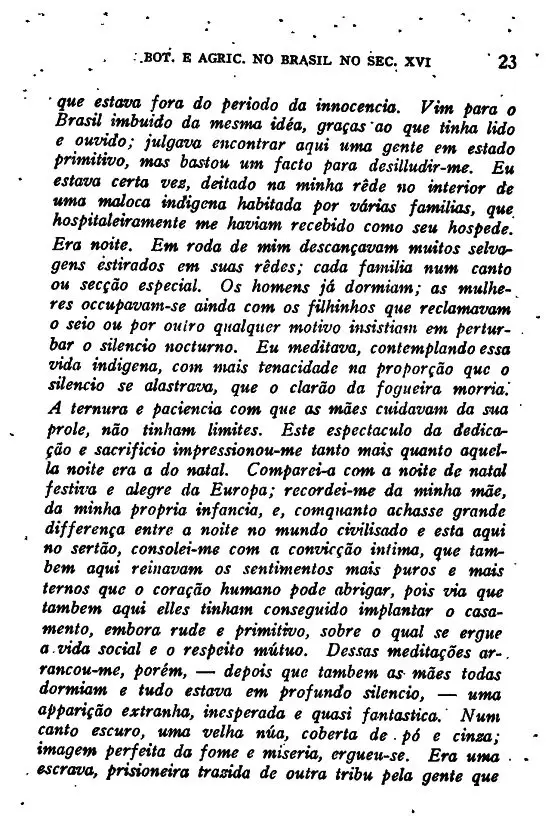que estava fora do período da inocência. Vim para o Brasil imbuído da mesma ideia, graças ao que tinha lido e ouvido; julgava encontrar aqui uma gente em estado primitivo, mas bastou um fato para desiludir-me. Eu estava certa vez, deitado na minha rede no interior de uma maloca indígena habitada por várias famílias, que hospitaleiramente me haviam recebido como seu hóspede. Era noite. Em roda de mim descansavam muitos selvagens estirados em suas redes; cada família num canto ou seção especial. Os homens já dormiam; as mulheres ocupavam-se ainda com os filhinhos que reclamavam o seio ou por outro qualquer motivo insistiam em perturbar o silêncio noturno. Eu meditava, contemplando essa vida indígena, com mais tenacidade na proporção que o silêncio se alastrava, que o clarão da fogueira morria. A ternura e paciência com que as mães cuidavam da sua prole, não tinham limites. Este espetáculo da dedicação e sacrifício impressionou-me tanto mais quanto aquela noite era a do natal. Comparei-a com a noite de natal festiva e alegre da Europa; recordei-me da minha mãe, da minha própria infância, e, conquanto achasse grande diferença entre a noite no mundo civilizado e esta aqui no sertão, consolei-me com a convicção íntima, que também aqui reinavam os sentimentos mais puros e mais ternos que o coração humano pode abrigar, pois via que também aqui eles tinham conseguido implantar o casamento, embora rude e primitivo, sobre o qual se ergue a vida social e o respeito mútuo. Dessas meditações arrancou-me, porém - depois que também as mães todas dormiam e tudo estava em profundo silêncio -, uma aparição estranha, inesperada e quase fantástica. Num canto escuro, uma velha nua, coberta de pó e cinza; imagem perfeita da fome e miséria, ergueu-se. Era uma escrava, prisioneira trazida de outra tribo pela gente que