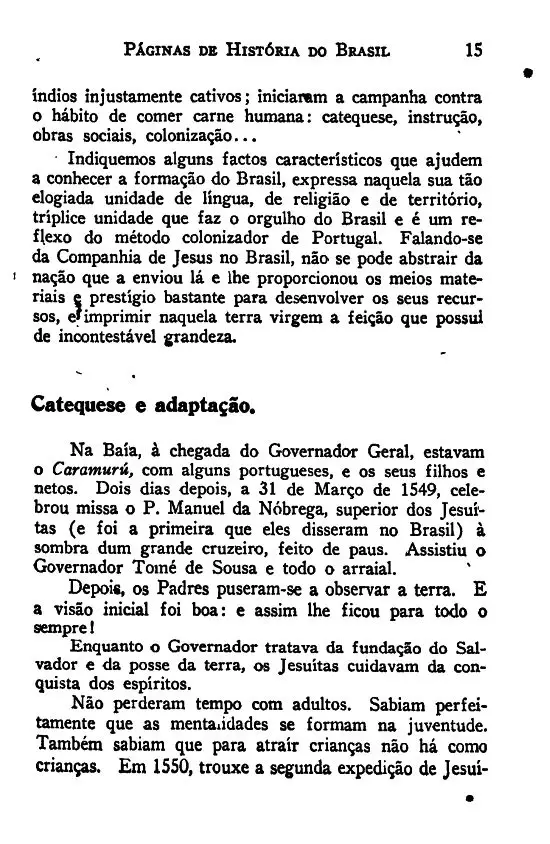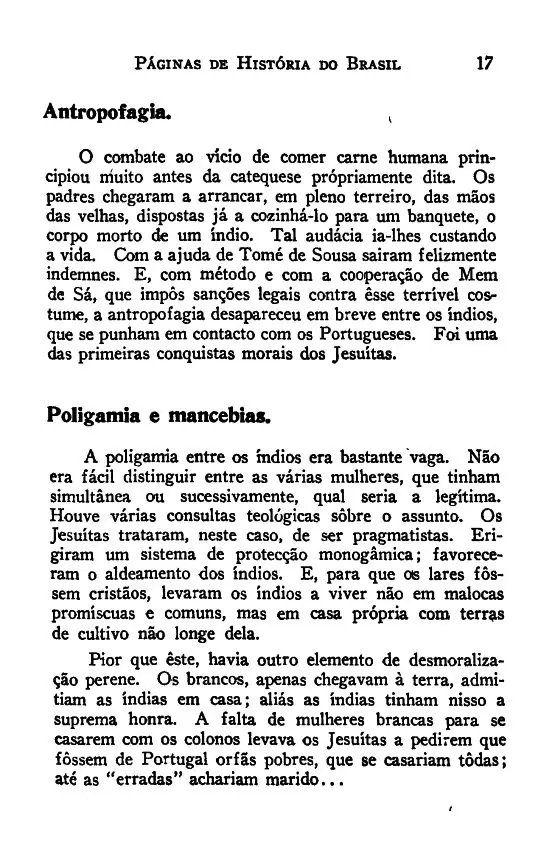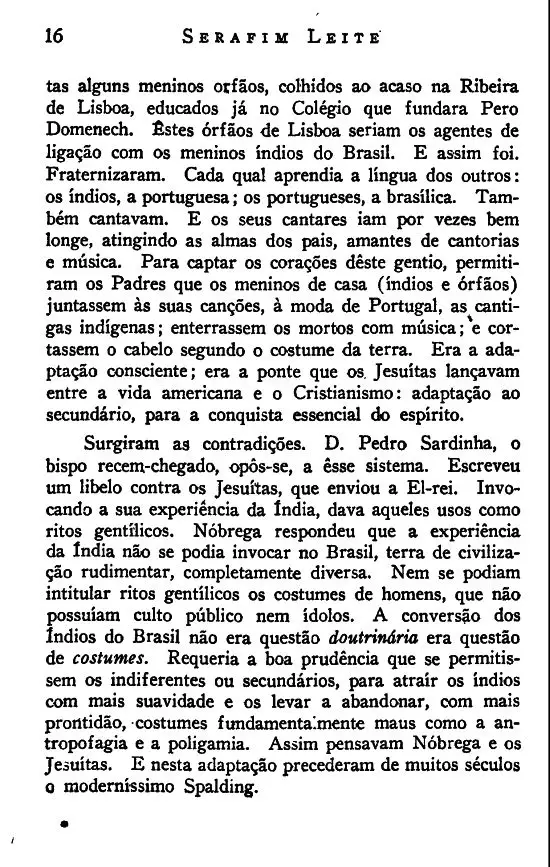alguns meninos orfãos, colhidos ao acaso na Ribeira de Lisboa, educados já no colégio que fundara Pero Doménech. Estes órfãos de Lisboa seriam os agentes de ligação com os meninos índios do Brasil. E assim foi. Fraternizaram. Cada qual aprendia a língua dos outros: os índios, a portuguesa; os portugueses, a brasílica. Também cantavam. E os seus cantares iam por vezes bem longe, atingindo as almas dos pais, amantes de cantorias e música. Para captar os corações deste gentio, permitiram os padres que os meninos de casa (índios e órfãos) juntassem às suas canções, à moda de Portugal, as cantigas indígenas; enterrassem os mortos com música; e cortassem o cabelo segundo o costume da terra. Era a adaptação consciente; era a ponte que os jesuítas lançavam entre a vida americana e o Cristianismo: adaptação ao secundário, para a conquista essencial do espírito.
Surgiram as contradições. D. Pedro Sardinha, o bispo recém-chegado, opôs-se a esse sistema. Escreveu um libelo contra os jesuítas, que enviou a El-rei. Invocando a sua experiência da Índia, dava aqueles usos como ritos gentílicos. Nóbrega respondeu que a experiência da Índia não se podia invocar no Brasil, terra de civilização rudimentar, completamente diversa. Nem se podiam intitular ritos gentílicos os costumes de homens, que não possuíam culto público nem ídolos. A conversão dos índios do Brasil não era questão doutrinária, era questão de costumes. Requeria a boa prudência que se permitissem os indiferentes ou secundários, para atrair os índios com mais suavidade e os levar a abandonar, com mais prontidão, costumes fundamentalmente maus como a antropofagia e a poligamia. Assim pensavam Nóbrega e os jesuítas. E nesta adaptação precederam de muitos séculos o moderníssimo Spalding.