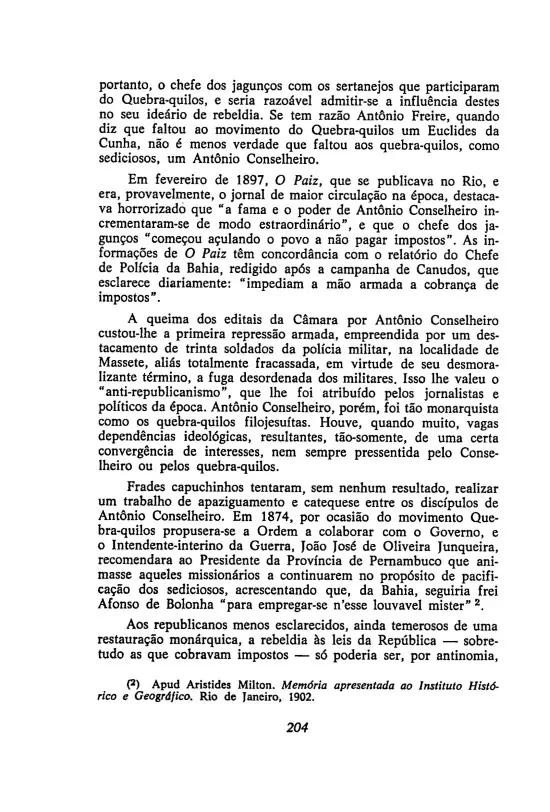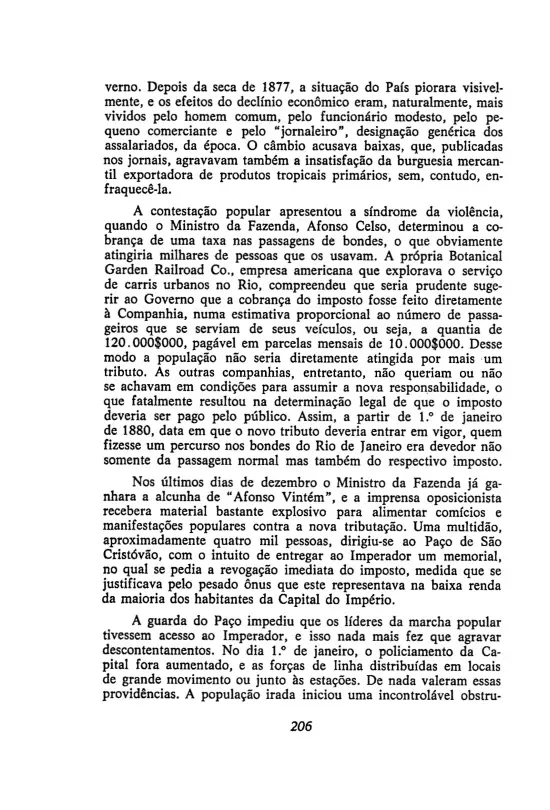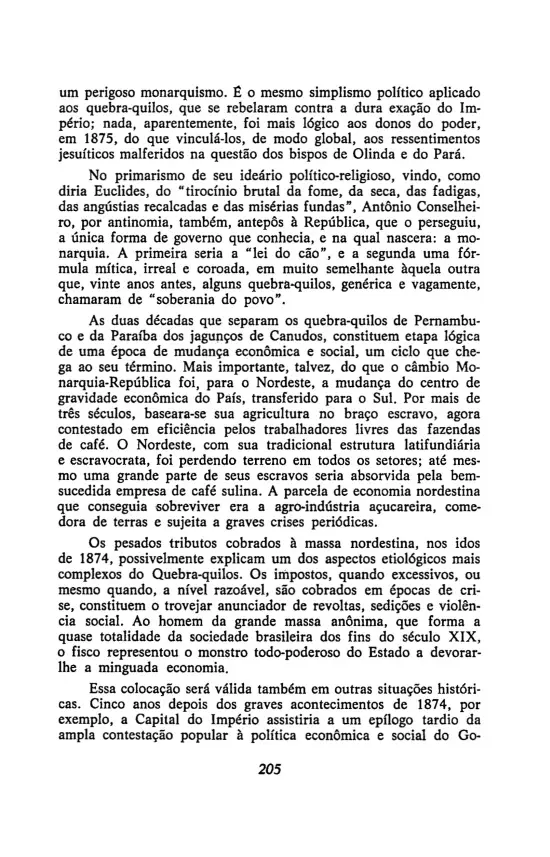um perigoso monarquismo. É o mesmo simplismo político aplicado aos quebra-quilos, que se rebelaram contra a dura exação do Império; nada, aparentemente, foi mais lógico aos donos do poder, em 1875, do que vinculá-los, de modo global, aos ressentimentos jesuíticos malferidos na questão dos bispos de Olinda e do Pará.
No primarismo de seu ideário político-religioso, vindo, como diria Euclides, do "tirocínio brutal da fome, da seca, das fadigas, das angústias recalcadas e das misérias fundas", Antônio Conselheiro, por antinomia, também, antepôs à República, que o perseguiu, a única forma de governo que conhecia, e na qual nascera: a monarquia. A primeira seria a "lei do cão", e a segunda uma fórmula mítica, irreal e coroada, em muito semelhante àquela outra que, vinte anos antes, alguns quebra-quilos, genérica e vagamente, chamaram de "soberania do povo".
As duas décadas que separam os quebra-quilos de Pernambuco e da Paraíba dos jagunços de Canudos, constituem etapa lógica de uma época de mudança econômica e social, um ciclo que chega ao seu término. Mais importante, talvez, do que o câmbio Monarquia-República foi, para o Nordeste, a mudança do centro de gravidade econômica do País, transferido para o Sul. Por mais de três séculos, baseara-se sua agricultura no braço escravo, agora contestado em eficiência pelos trabalhadores livres das fazendas de café. O Nordeste, com sua tradicional estrutura latifundiária e escravocrata, foi perdendo terreno em todos os setores; até mesmo uma grande parte de seus escravos seria absorvida pela bem-sucedida empresa de café sulina. A parcela de economia nordestina que conseguia sobreviver era a agroindústria açucareira, comedora de terras e sujeita a graves crises periódicas.
Os pesados tributos cobrados à massa nordestina, nos idos de 1874, possivelmente explicam um dos aspectos etiológicos mais complexos do Quebra-quilos. Os impostos, quando excessivos, ou mesmo quando, a nível razoável, são cobrados em épocas de crise, constituem o trovejar anunciador de revoltas, sedições e violência social. Ao homem da grande massa anônima, que forma a quase totalidade da sociedade brasileira dos fins do século XIX, o fisco representou o monstro todo-poderoso do Estado a devorar-lhe a minguada economia.
Essa colocação será válida também em outras situações históricas. Cinco anos depois dos graves acontecimentos de 1874, por exemplo, a Capital do Império assistiria a um epílogo tardio da ampla contestação popular à política econômica e social do Governo.