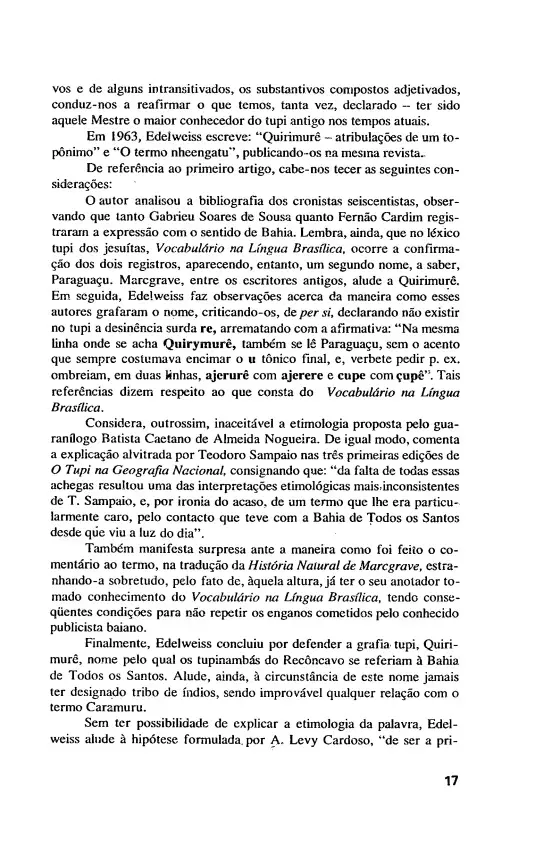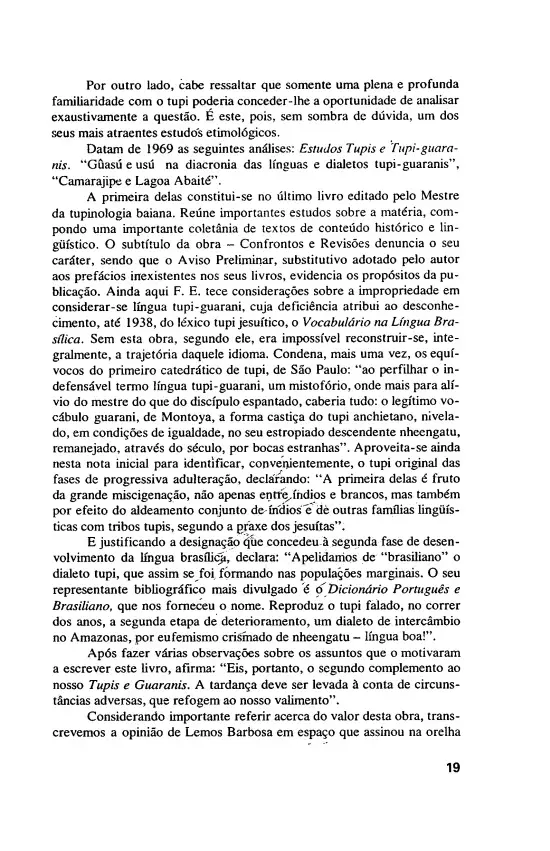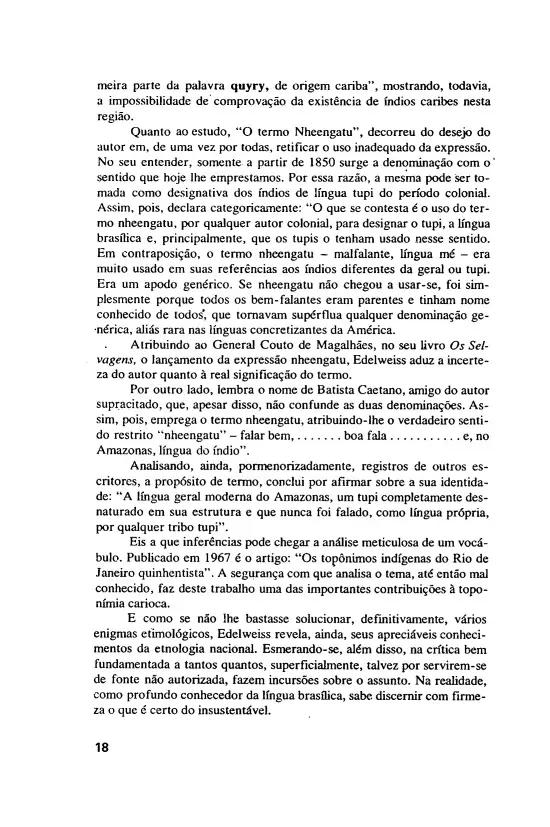parte da palavra quyry, de origem cariba", mostrando, todavia, a impossibilidade de comprovação da existência de índios caribes nesta região.
Quanto ao estudo, "O termo Nheengatu", decorreu do desejo do autor em, de uma vez por todas, retificar o uso inadequado da expressão. No seu entender, somente a partir de 1850 surge a denominação com o sentido que hoje lhe emprestamos. Por essa razão, a mesma pode ser tomada como designativa dos índios de língua tupi do período colonial. Assim, pois, declara categoricamente: "O que se contesta é o uso do termo nheengatu, por qualquer autor colonial, para designar o tupi, a língua brasílica e, principalmente, que os tupis o tenham usado nesse sentido. Em contraposição, o termo nheengatu - malfalante, língua mé - era muito usado em suas referências aos índios diferentes da geral ou tupi. Era um apodo genérico. Se nheengatu não chegou a usar-se, foi simplesmente porque todos os bem-falantes eram parentes e tinham nome conhecido de todos, que tornavam supérflua qualquer denominação genérica, aliás rara nas línguas concretizantes da América.
Atribuindo ao general Couto de Magalhães, no seu livro Os Selvagens, o lançamento da expressão nheengatu, Edelweiss aduz a incerteza do autor quanto à real significação do termo.
Por outro lado, lembra o nome de Batista Caetano, amigo do autor supracitado, que, apesar disso, não confunde as duas denominações. Assim, pois, emprega o termo nheengatu, atribuindo-lhe o verdadeiro sentido restrito "nheengatu" - falar bem, (...) boa fala (...) e, no Amazonas, língua do índio".
Analisando, ainda, pormenorizadamente, registros de outros escritores, a propósito de termo, conclui por afirmar sobre a sua identidade: "A língua geral moderna do Amazonas, um tupi completamente desnaturado em sua estrutura e que nunca foi falado, como língua própria, por qualquer tribo tupi".
Eis a que inferências pode chegar a análise meticulosa de um vocábulo. Publicado em 1967 é o artigo: "Os topônimos indígenas do Rio de Janeiro quinhentista". A segurança com que analisa o tema, até então mal conhecido, faz deste trabalho uma das importantes contribuições à toponímia carioca.
E como se não lhe bastasse solucionar, definitivamente, vários enigmas etimológicos, Edelweiss revela, ainda, seus apreciáveis conhecimentos da etnologia nacional. Esmerando-se, além disso, na crítica bem fundamentada a tantos quantos, superficialmente, talvez por servirem-se de fonte não autorizada, fazem incursões sobre o assunto. Na realidade, como profundo conhecedor da língua brasílica, sabe discernir com firmeza o que é certo do insustentável.