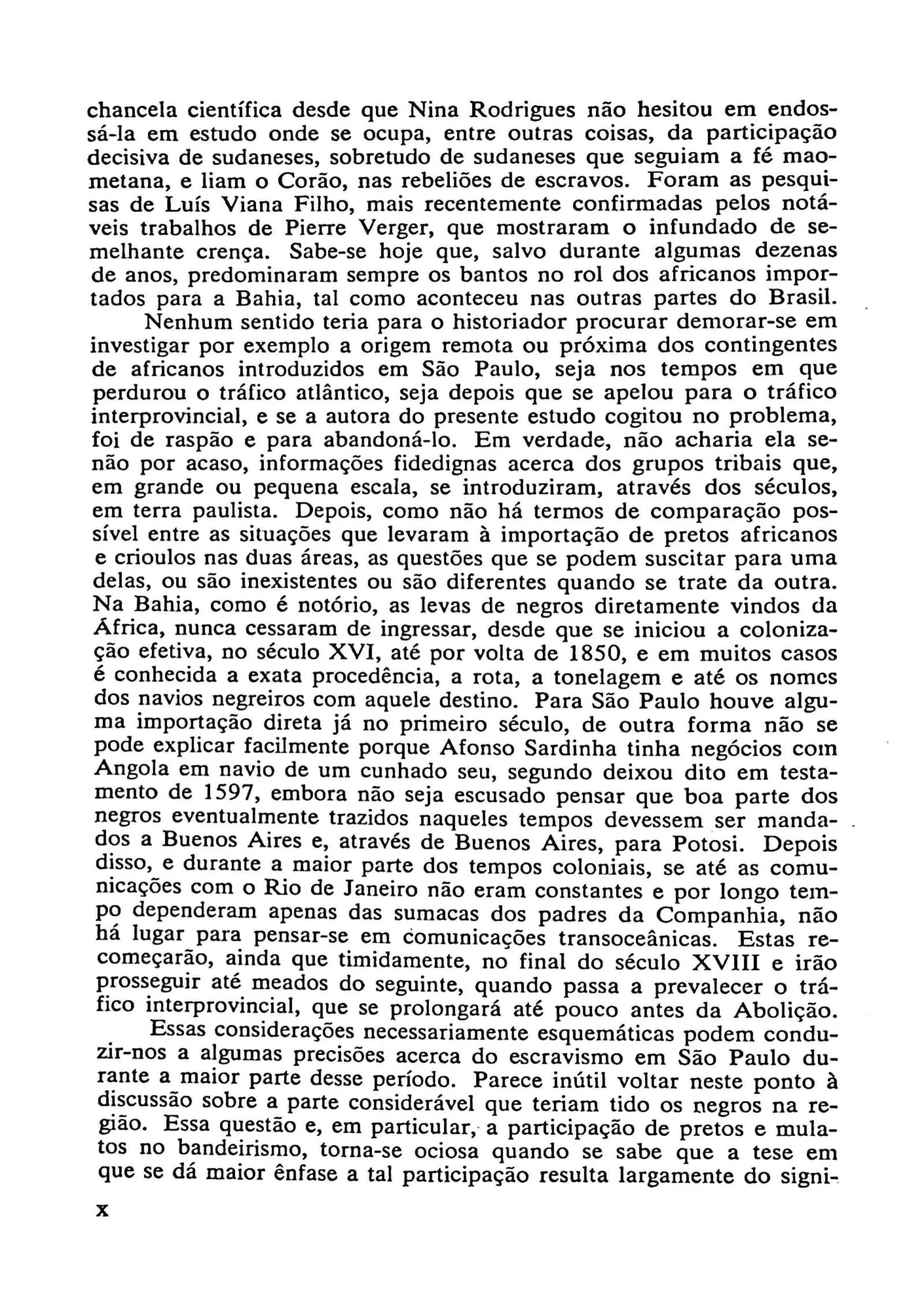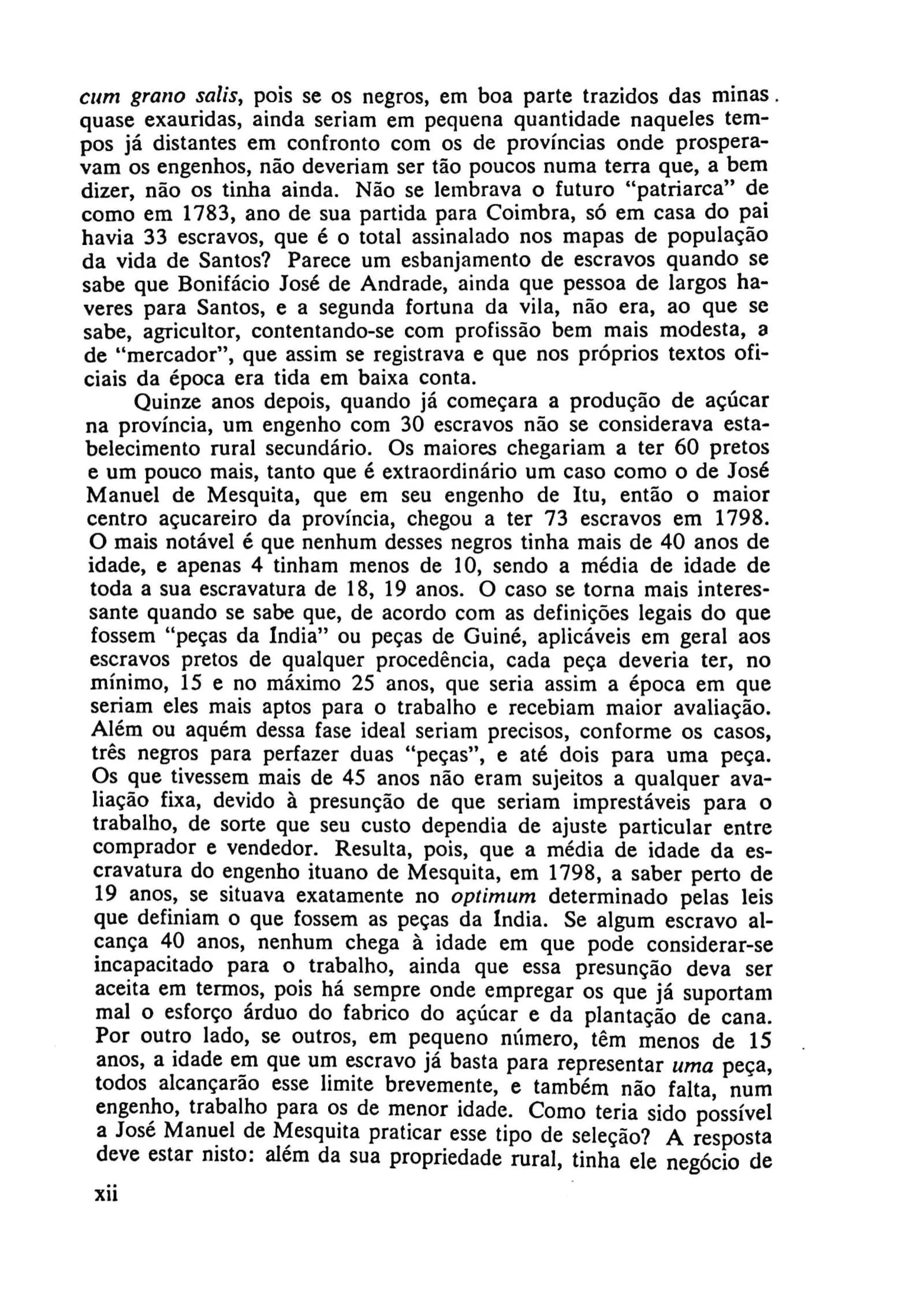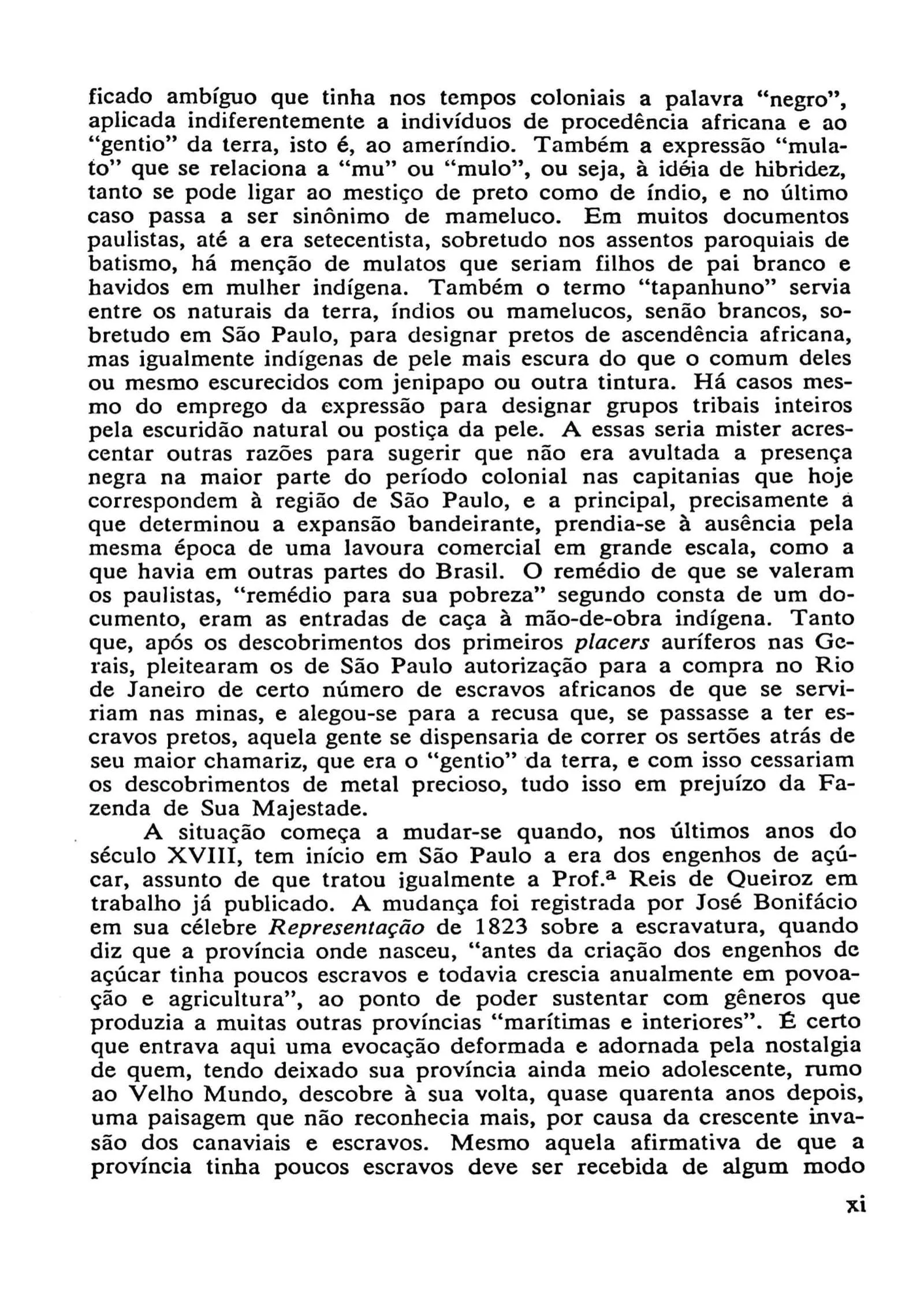ambíguo que tinha nos tempos coloniais a palavra "negro", aplicada indiferentemente a indivíduos de procedência africana e ao "gentio" da terra, isto é, ao ameríndio. Também a expressão "mulato" que se relaciona a "mu" ou "mulo", ou seja, à ideia de hibridez, tanto se pode ligar ao mestiço de preto como de índio, e no último caso passa a ser sinônimo de mameluco. Em muitos documentos paulistas, até a era setecentista, sobretudo nos assentos paroquiais de batismo, há menção de mulatos que seriam filhos de pai branco e havidos em mulher indígena. Também o termo "tapanhuno" servia entre os naturais da terra, índios ou mamelucos, senão brancos, sobretudo em São Paulo, para designar pretos de ascendência africana, mas igualmente indígenas de pele mais escura do que o comum deles ou mesmo escurecidos com jenipapo ou outra tintura. Há casos mesmo do emprego da expressão para designar grupos tribais inteiros pela escuridão natural ou postiça da pele. A essas seria mister acrescentar outras razões para sugerir que não era avultada a presença negra na maior parte do período colonial nas capitanias que hoje correspondem à região de São Paulo, e a principal, precisamente a que determinou a expansão bandeirante, prendia-se à ausência pela mesma época de uma lavoura comercial em grande escala, como a que havia em outras partes do Brasil. O remédio de que se valeram os paulistas, "remédio para sua pobreza" segundo consta de um documento, eram as entradas de caça à mão de obra indígena. Tanto que, após os descobrimentos dos primeiros placers auríferos nas Gerais, pleitearam os de São Paulo autorização para a compra no Rio de Janeiro de certo número de escravos africanos de que se serviriam nas minas, e alegou-se para a recusa que, se passasse a ter escravos pretos, aquela gente se dispensaria de correr os sertões atrás de seu maior chamariz, que era o "gentio" da terra, e com isso cessariam os descobrimentos de metal precioso, tudo isso em prejuízo da Fazenda de Sua Majestade.
A situação começa a mudar-se quando, nos últimos anos do século XVIII, tem início em São Paulo a era dos engenhos de açúcar, assunto de que tratou igualmente a Professora Reis de Queiroz em trabalho já publicado. A mudança foi registrada por José Bonifácio em sua célebre Representação de 1823 sobre a escravatura, quando diz que a província onde nasceu, "antes da criação dos engenhos de açúcar tinha poucos escravos e todavia crescia anualmente em povoação e agricultura", ao ponto de poder sustentar com gêneros que produzia a muitas outras províncias "marítimas e interiores". É certo que entrava aqui uma evocação deformada e adornada pela nostalgia de quem, tendo deixado sua província ainda meio adolescente, rumo ao Velho Mundo, descobre à sua volta, quase quarenta anos depois, uma paisagem que não reconhecia mais, por causa da crescente invasão dos canaviais e escravos. Mesmo aquela afirmativa de que a província tinha poucos escravos deve ser recebida de algum modo