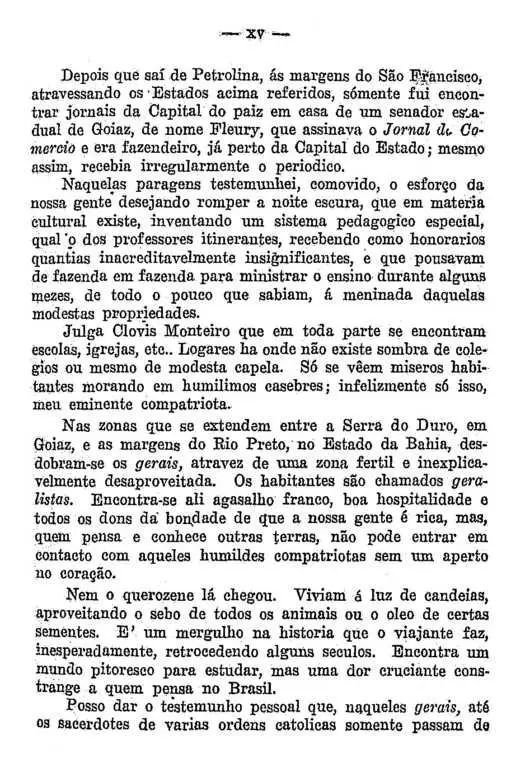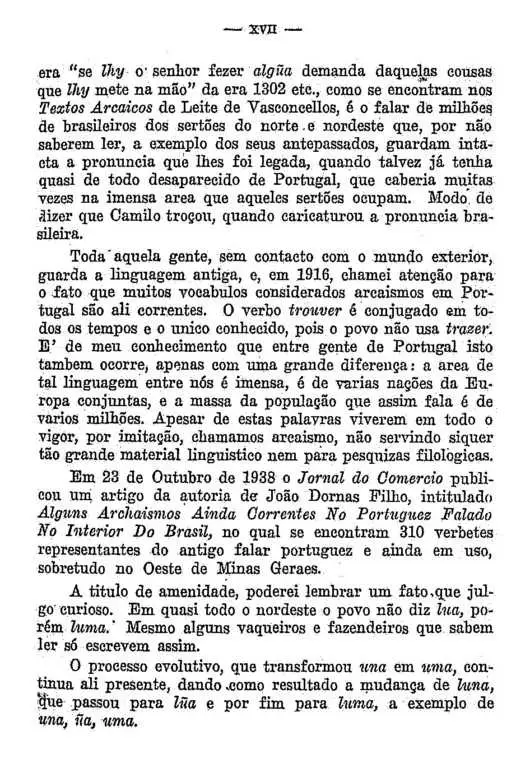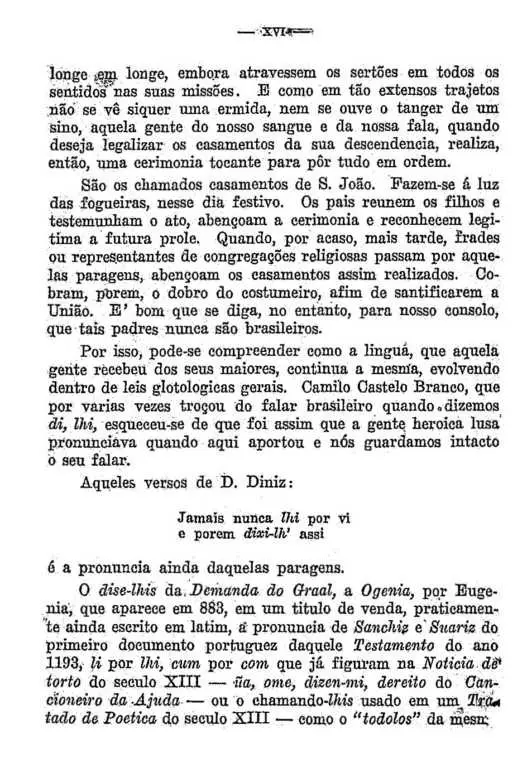longe em longe, embora atravessem os sertões em todos os sentidos nas suas missões. E como em tão extensos trajetos não se vê sequer uma ermida, nem se ouve o tanger de um sino, aquela gente do nosso sangue e da nossa fala, quando deseja legalizar os casamentos da sua descendência, realiza, então, uma cerimônia tocante para pôr tudo em ordem.
São os chamados casamentos de São João. Fazem-se à luz das fogueiras, nesse dia festivo. Os pais reúnem os filhos e testemunham o ato, abençoam a cerimônia e reconhecem legítima a futura prole. Quando, por acaso, mais tarde, frades ou representantes de congregações religiosas passam por aquelas paragens, abençoam os casamentos assim realizados. Cobram, porém, o dobro do costumeiro, a fim de santificarem a união. É bom que se diga, no entanto, para nosso consolo, que tais padres nunca são brasileiros.
Por isso, pode-se compreender como a língua, que aquela gente recebeu dos seus maiores, continua a mesma, evolvendo dentro de leis glotológias gerais. Camilo Castelo Branco, que por várias vezes troçou do falar brasileiro quando dizemos di, lhi, esqueceu-se de que foi assim que a gente heroica lusa pronunciava quando aqui aportou e nós guardamos intacto o seu falar.
Aqueles versos de D. Diniz:
"Jamais nunca lhi por vi / e porém dixi-lh' assi"
é a pronúncia ainda daquelas paragens.
O dise-lhis da Demanda do Graal, a Ogenia, por Eugenia, que aparece em 883, em um título de venda, praticamente ainda escrito em latim, a pronúncia de Sanchiz e Suariz do primeiro documento português daquele testamento do ano 1193, li por lhi, cum por com que já figuram na Noticia de Torto do século XIII – ua, ome, dizen-mi, dereito do Cancioneiro da ajuda – ou o chamando- lhis usado em um Tratadoo de poetica do século XIII – como o "todolos" da mesma