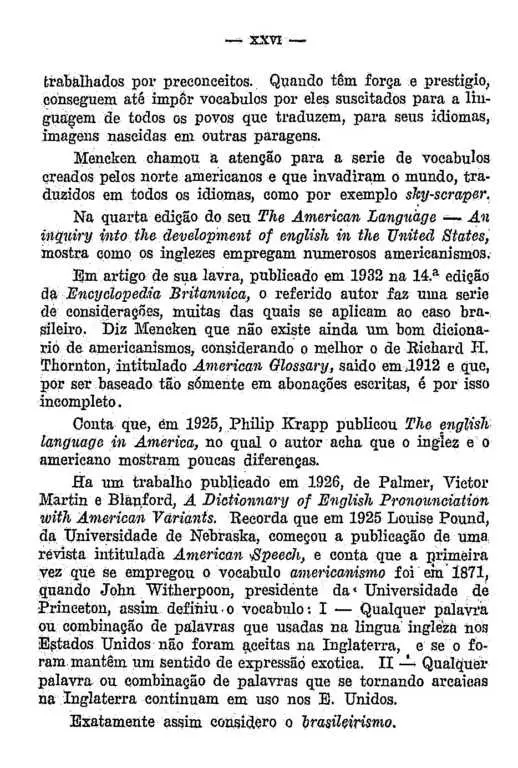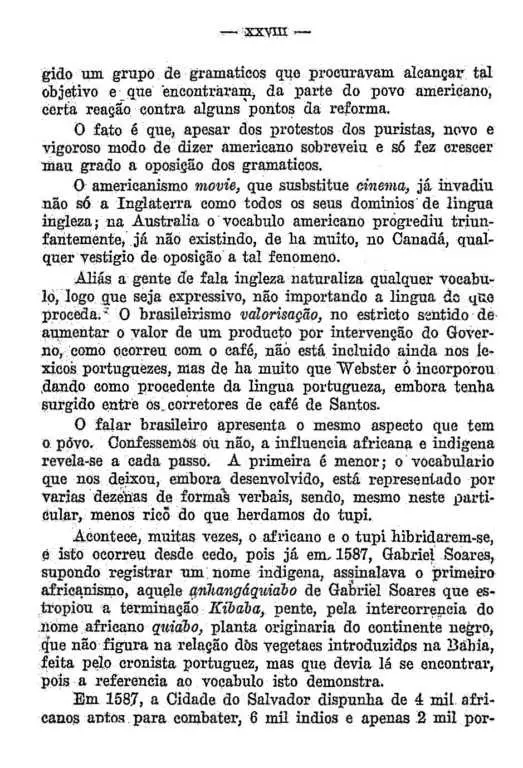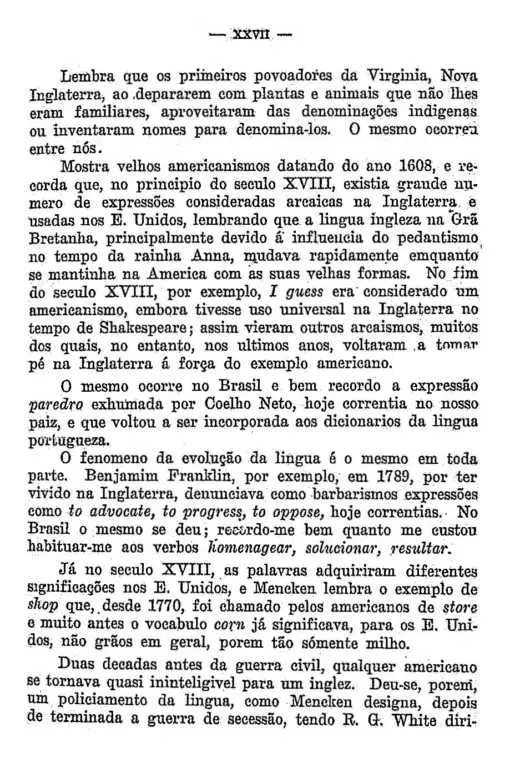Lembra que os primeiros povoadores da Virgínia, Nova Inglaterra, ao depararem com plantas e animais que não lhes eram familiares, aproveitaram das denominações indígenas ou inventaram nomes para denominá-los. O mesmo ocorreu entre nós.
Mostra velhos americanismos datando do ano 1608, e recorda que, no princípio do século XVIII existia grande número de expressões consideradas arcaicas na Inglaterra e usadas nos Estados Unidos, lembrando que a língua inglesa na Grã Bretanha, principalmente devido à influência do pedantismo no tempo da rainha Ana, mudava rapidamente enquauto se mantinha na América com as suas velhas formas. No fim do século XVIII, por exemplo, I guess era considerado um americanismo, embora tivesse uso universal na Inglaterra no tempo de Shakespeare; assim vieram outros arcaísmos, muitos dos quais, no entanto, nos últimos anos, voltaram a tomar pé na Inglaterra à força do exemplo americano.
O mesmo ocorre no Brasil e bem recordo a expressão paredro exumada por Coelho Neto, hoje correntia no nosso país, e que voltou a ser incorporada aos dicionários da língua portuguesa.
O fenômeno da evolução da língua é o mesmo em toda parte. Benjamim Franklin, por exemplo, em 1789, por ter vivido na Inglaterra, denunciava como barbarismos expressões como to advocate, to progress, to oppose, hoje correntias. No Brasil o mesmo se deu; recordo-me bem quanto me custou habituar-me aos verbos homenagear, solucionar, resultar.
Já no século XVIII, as palavras adquiriram diferentes significações nos Estados Unidos, e Mencken lembra o exemplo de shop que, desde 1770, foi chamado pelos americanos de store e muito antes o vocábulo corn já significava, para os Estados Unidos, não grãos em geral, porém tão somente milho.
Duas décadas antes da guerra civil, qualquer americano se tornava quase ininteligível para um inglês. Deu-se, porém, um policiamento da língua, como Mencken designa, depois de terminada a guerra de secessão, tendo R. G. White dirigido