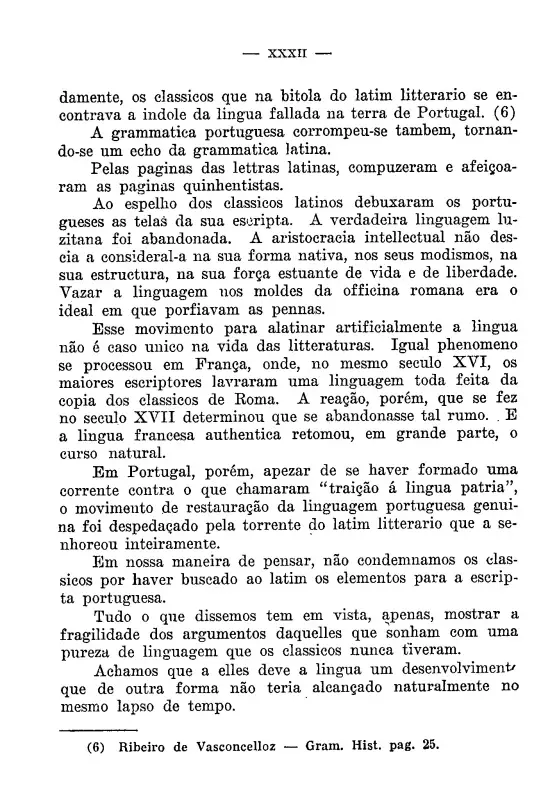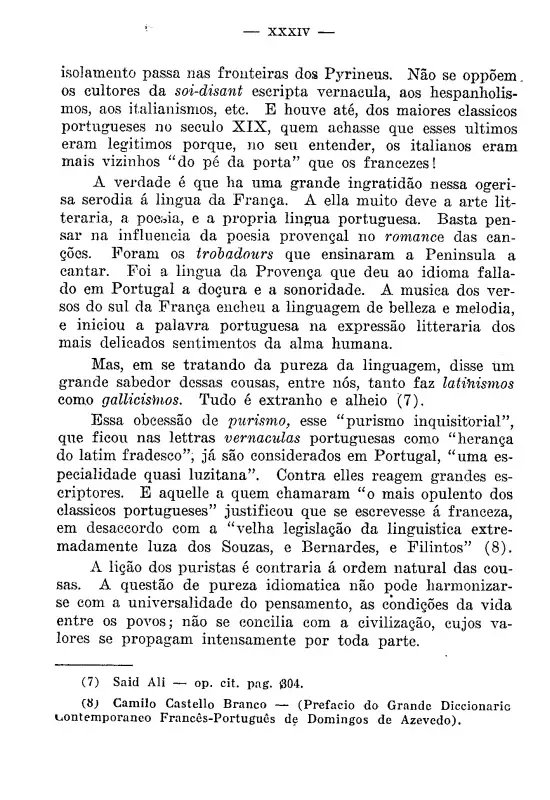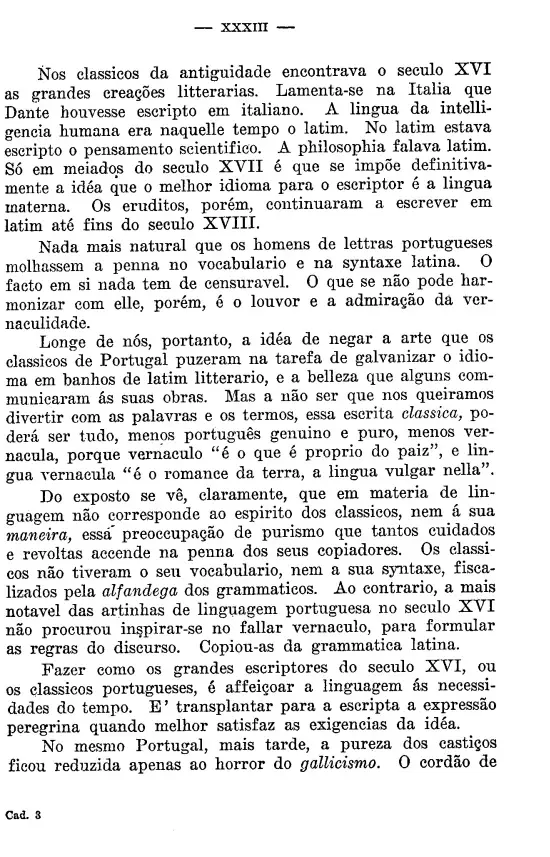Nos clássicos da Antiguidade encontrava o século XVI as grandes criações literárias. Lamenta-se na Itália que Dante houvesse escrito em italiano. A língua da inteligência humana era naquele tempo o latim. No latim estava escrito o pensamento científico. A filosofia falava latim. Só em meados do século XVII é que se impõe definitivamente a ideia que o melhor idioma para o escritor é a língua materna. Os eruditos, porém, continuaram a escrever em latim até fins do século XVIII.
Nada mais natural que os homens de letras portugueses molhassem a pena no vocabulário e na sintaxe latina. O facto em si nada tem de censurável. O que se não pode harmonizar com ele, porém, é o louvor e a admiração da vernaculidade.
Longe de nós, portanto, a ideia de negar a arte que os clássicos de Portugal puseram na tarefa de galvanizar o idioma em banhos de latim literário, e a beleza que alguns comunicaram às suas obras. Mas a não ser que nos queiramos divertir com as palavras e os termos, essa escrita clássica poderá ser tudo, menos português genuíno e puro, menos vernácula, porque vernáculo "é o que é próprio do país", e língua vernácula "é o romance da terra, a língua vulgar nela".
Do exposto se vê, claramente, que em matéria de linguagem não corresponde ao espírito dos clássicos, nem à sua maneira, essa preocupação de purismo que tantos cuidados e revoltas acende na pena dos seus copiadores. Os clássicos não tiveram o seu vocabulário, nem a sua sintaxe, fiscalizados pela alfândega dos gramáticos. Ao contrário, a mais notável das artinhas de linguagem portuguesa no século XVI não procurou inpirar-se no falar vernáculo para formular as regras do discurso. Copiou-as da gramática latina.
Fazer como os grandes escritores do século XVI, ou os clássicos portugueses, é afeiçoar a linguagem às necessidades do tempo. É transplantar para a escrita a expressão peregrina quando melhor satisfaz as exigências da ideia.
No mesmo Portugal, mais tarde, a pureza dos castiços ficou reduzida apenas ao horror do galicismo. O cordão de