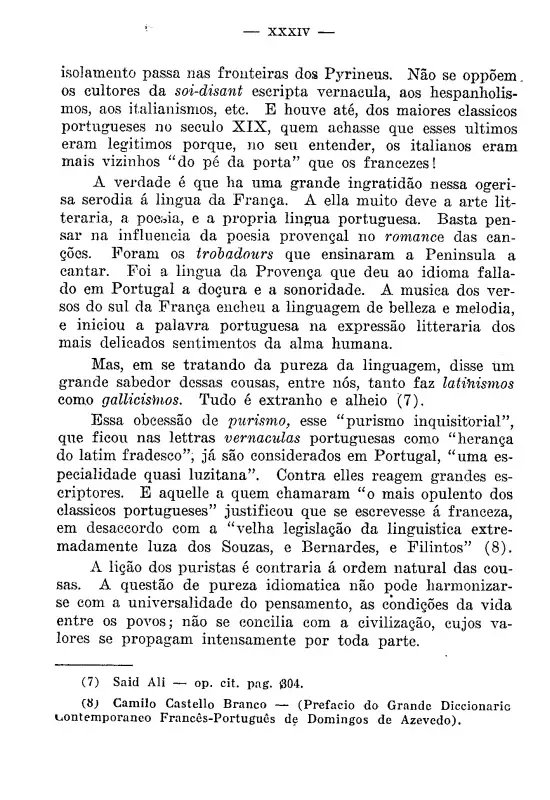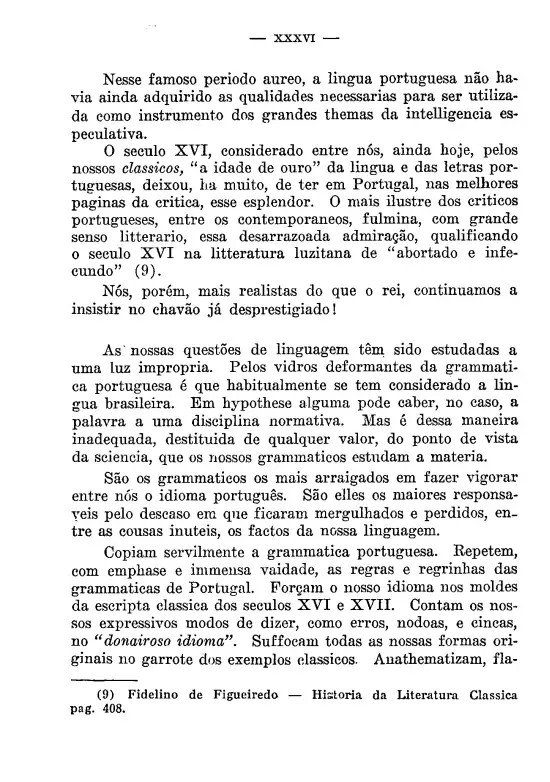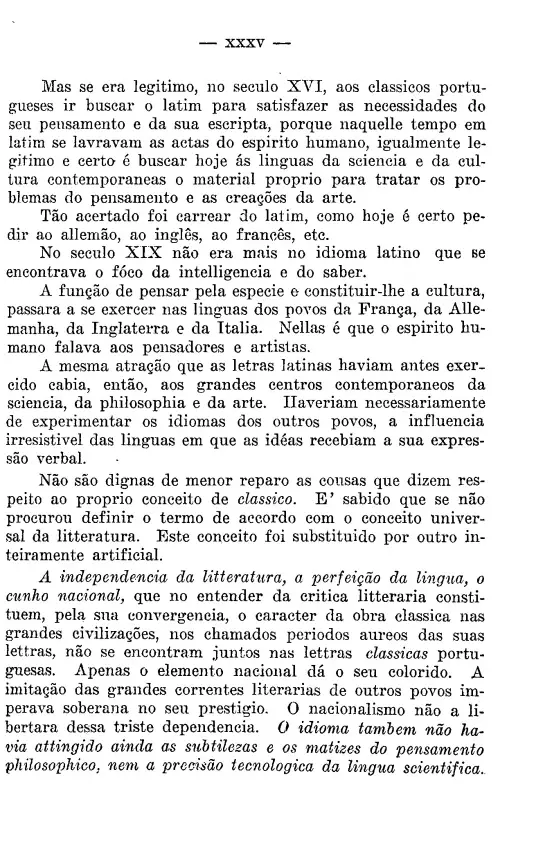Mas se era legítimo, no século XVI, aos clássicos portugueses ir buscar o latim para satisfazer as necessidades do seu pensamento e da sua escrita, porque naquele tempo em latim se lavravam as atas do espírito humano, igualmente legítimo e certo é buscar hoje às línguas da ciência e da cultura contemporâneos o material próprio para tratar os problemas do pensamento e as criações da arte.
Tão acertado foi carrear do latim, como hoje é certo pedir ao alemão, ao inglês, ao francês, etc.
No século XIX não era mais no idioma latino que se encontrava o foco da inteligência e do saber.
A função de pensar pela espécie e constituir-lhe a cultura passara a se exercer nas línguas dos povos da França, da Alemanha, da Inglaterra e da Itália. Nelas é que o espírito humano falava aos pensadores e artistas.
A mesma atração que as letras latinas haviam antes exercido, cabia, então, aos grandes centros contemporâneos da ciência, da filosofia e da arte. Haveriam necessariamente de experimentar os idiomas dos outros povos, a influência irresistível das línguas em que as ideias recebiam a sua expressão verbal.
Não são dignas de menor reparo as cousas que dizem respeito ao próprio conceito de clássico. É sabido que se não procurou definir o termo de acordo com o conceito universal da literatura. Este conceito foi substituído por outro inteiramente artificial.
A independência da literatura, a perfeição da língua, o cunho nacional, que no entender da crítica literária constituem, pela sua convergência, o caráter da obra clássica nas grandes civilizações, nos chamados períodos áureos das suas letras, não se encontram juntos nas letras clássicas portuguesas. Apenas o elemento nacional dá o seu colorido. A imitação das grandes correntes literárias de outros povos imperava soberana no seu prestígio. O nacionalismo não a libertara dessa triste dependência. O idioma também não havia atingido ainda as sutilezas e os matizes do pensamento filosófico, nem a precisão tecnológica da língua científica.