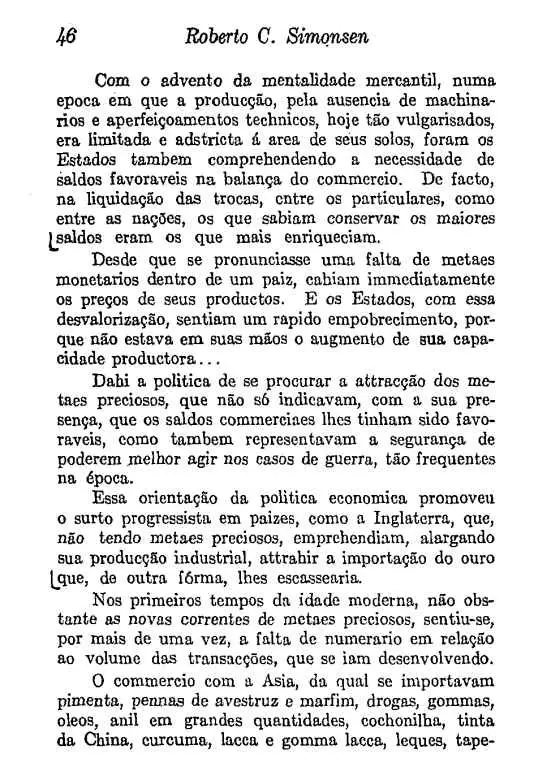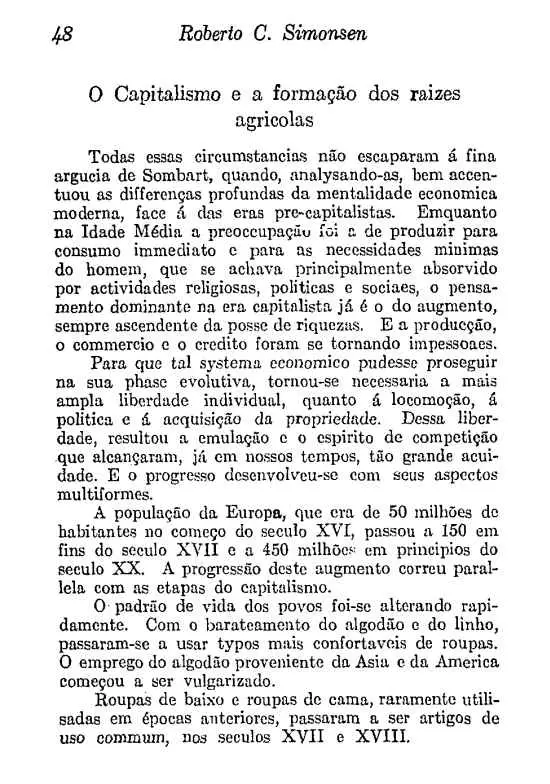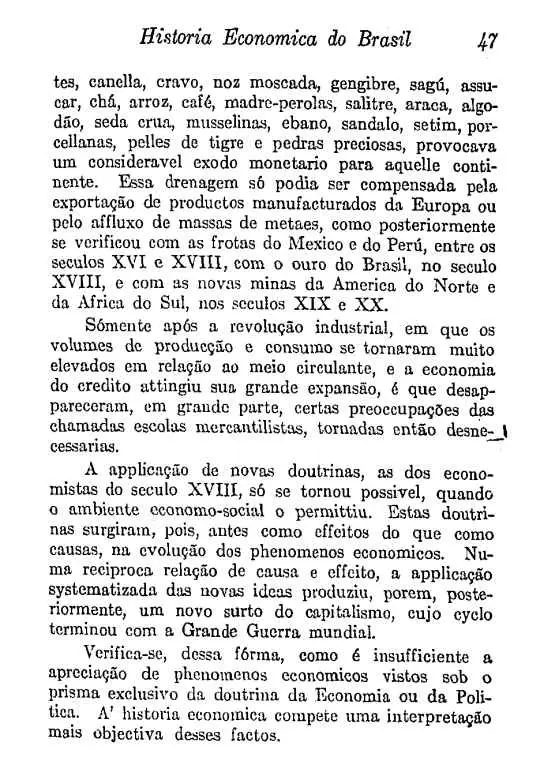canela, cravo, noz-moscada, gengibre, sagu, açúcar, chá, arroz, café, madrepérolas, salitre, araca, algodão, seda crua, musselinas, ébano, sândalo, cetim, porcelanas, peles de tigre e pedras preciosas provocava um considerável êxodo monetário para aquele continente. Essa drenagem só podia ser compensada pela exportação de produtos manufaturados da Europa ou pelo afluxo de massas de metais, como posteriormente se verificou com as frotas do México e do Peru, entre os séculos XVI e XVIII, com o ouro do Brasil, no século XVIII, e com as novas minas da América do Norte e da África do Sul, nos séculos XIX e XX.
Somente após a Revolução Industrial, em que os volumes de produção e consumo se tornaram muito elevados em relação ao meio circulante, e a economia do crédito atingiu sua grande expansão, é que desapareceram, em grande parte, certas preocupações das chamadas escolas mercantilistas, tornadas então desnecessárias.
A aplicação de novas doutrinas, as dos economistas do século XVIII, só se tornou possível, quando o ambiente economo-social o permitiu. Estas doutrinas surgiram, pois, antes como efeitos do que como causas, na evolução dos fenômenos econômicos. Numa recíproca relação de causa e efeito, a aplicação sistematizada das novas ideias produziu, porém, posteriormente, um novo surto do capitalismo, cujo ciclo terminou com a Grande Guerra Mundial.
Verifica-se, dessa forma, como é insuficiente a apreciação de fenômenos econômicos vistos sob o prisma exclusivo da doutrina da economia ou da política. À história econômica compete uma interpretação mais objetiva desses fatos.