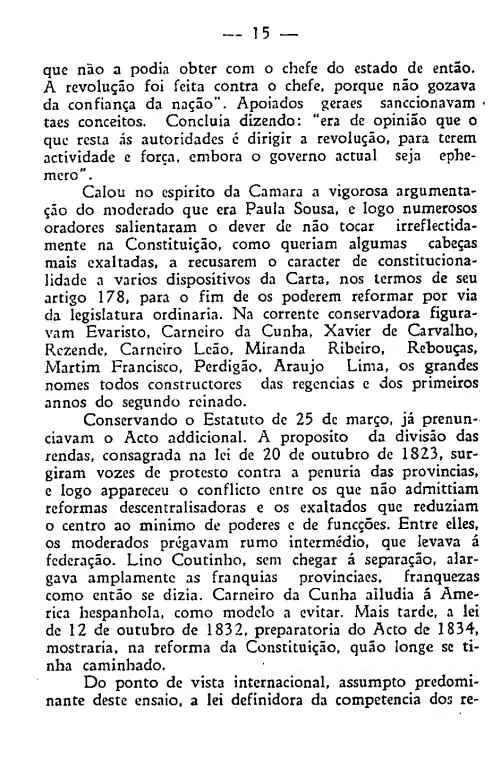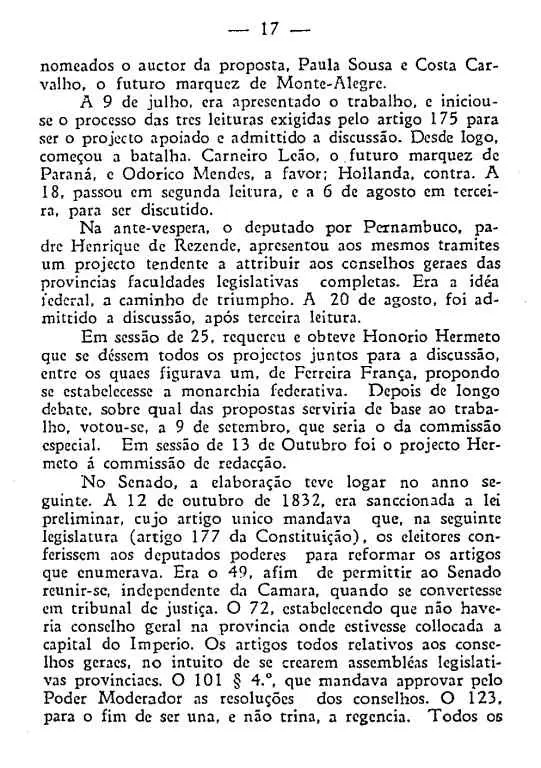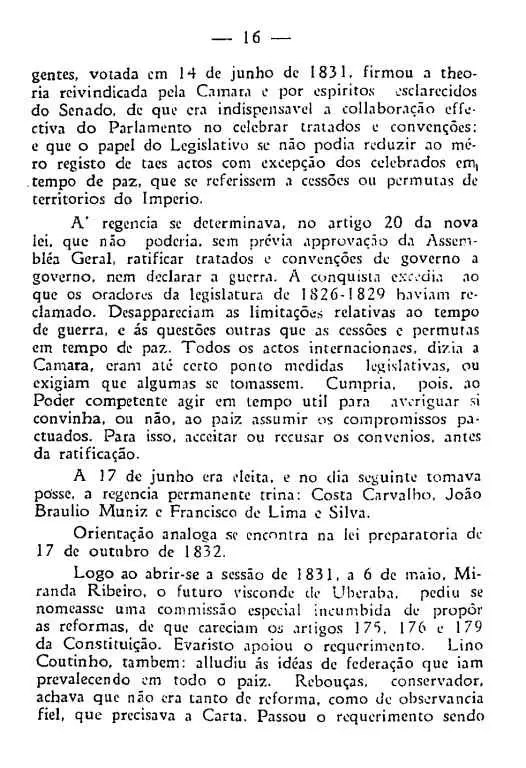votada em 14 de junho de 1831, firmou a teoria reivindicada pela Câmara e por espíritos esclarecidos do Senado, de que era indispensável a colaboração efetiva do Parlamento no celebrar tratados e convenções; e que o papel do Legislativo se não podia reduzir ao mero registo de tais atos com exceção dos celebrados em tempo de paz, que se referissem a cessões ou permutas de territórios do Império.
À regência se determinava, no artigo 20 da nova lei, que não poderia, sem prévia aprovação da Assembleia Geral, ratificar tratados e convenções de governo a governo, nem declarar a guerra. A conquista excedia ao que os oradores da legislatura de 1826-1829 haviam reclamado. Desapareciam as limitações relativas ao tempo de guerra, e às questões outras que as cessões e permutas em tempo de paz. Todos os atos internacionais, dizia a Câmara, eram até certo ponto medidas legislativas, ou exigiam que algumas se tornassem. Cumpria, pois, ao poder competente agir em tempo útil para averiguar se convinha, ou não, ao país assumir os compromissos pactuados. Para isso, aceitar ou recusar os convênios, antes da ratificação.
A 17 de junho era eleita, e no dia seguinte tomava posse, a regência permanente trina: Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva.
Orientação análoga se encontra na lei preparatória de 17 de outubro de 1832.
Logo ao abrir-se a sessão de 1831, a 6 de maio, Miranda Ribeiro, o futuro visconde de Uberaba, pediu se nomeasse uma comissão especial incumbida de propor as reformas de que careciam os artigos 175, 176 e 179 da Constituição. Evaristo apoiou o requerimento. Lino Coutinho também; aludiu às ideias de federação que iam prevalecendo em todo o país. Rebouças, conservador, achava que não era tanto de reforma, como de observância fiel, que precisava a Carta. Passou o requerimento sendo