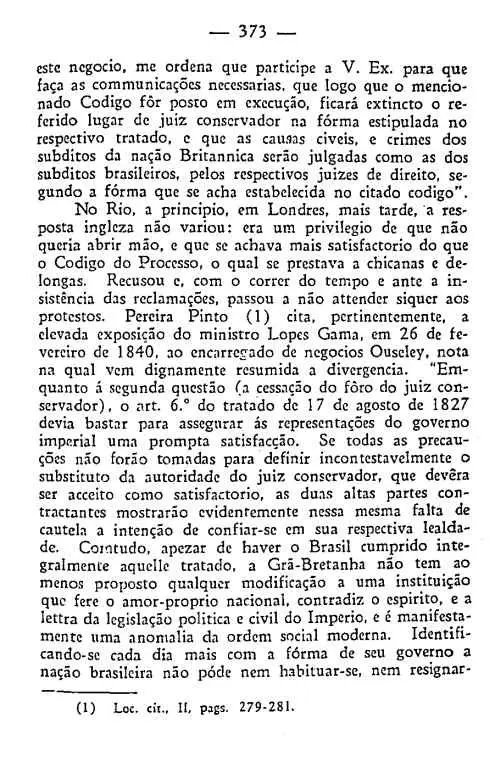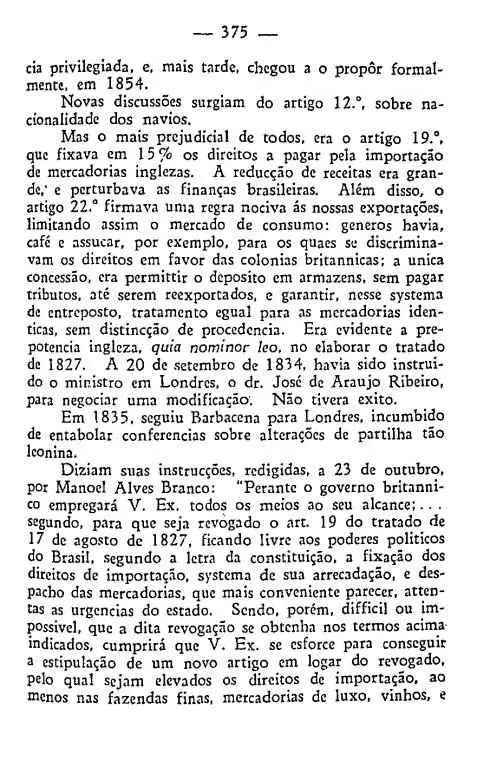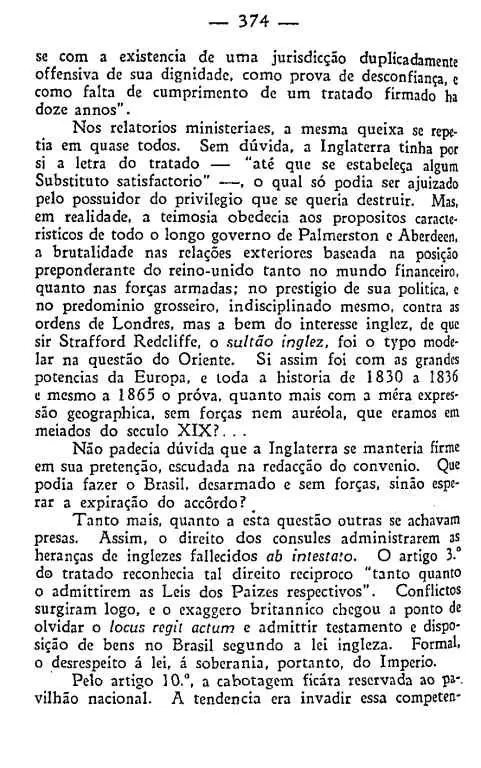com a existência de uma jurisdição duplicadamente ofensiva de sua dignidade, como prova de desconfiança, e como falta de cumprimento de um tratado firmado há doze anos".
Nos relatórios ministeriais, a mesma queixa se repetia em quase todos. Sem dúvida, a Inglaterra tinha por si a letra do tratado — "até que se estabeleça algum substituto satisfatório" —, o qual só podia ser ajuizado pelo possuidor do privilégio que se queria destruir. Mas, em realidade, a teimosia obedecia aos propósitos característicos de todo o longo governo de Palmerston e Aberdeen, a brutalidade nas relações exteriores baseada na posição preponderante do Reino-Unido tanto no mundo financeiro, quanto nas forças armadas; no prestígio de sua política, e no predomínio grosseiro, indisciplinado mesmo, contra as ordens de Londres, mas a bem do interesse inglês, de que sir Strafford Redcliffe, o sultão inglês, foi o tipo modelar na questão do Oriente. Se assim foi com as grandes potências da Europa, e toda a história de 1830 a 1836 e mesmo a 1865 o prova, quanto mais com a mera expressão geográfica, sem forças nem auréola, que éramos em meados do século XIX?...
Não padecia dúvida que a Inglaterra se manteria firme em sua pretensão, escudada na redação do convênio. Que podia fazer o Brasil, desarmado e sem forças, senão esperar a expiração do acordo?
Tanto mais, quanto a esta questão outras se achavam presas. Assim, o direito dos cônsules administrarem as heranças de ingleses falecidos ab intestato. O artigo 3° do tratado reconhecia tal direito recíproco "tanto quanto o admitirem as leis dos países respectivos". Conflitos surgiram logo, e o exagero britânico chegou a ponto de olvidar o locus regit actum e admitir testamento e disposição de bens no Brasil segundo a lei inglesa. Formal, o desrespeito à lei, à soberania, portanto, do Império.
Pelo artigo 10º, a cabotagem ficara reservada ao pavilhão nacional. A tendência era invadir essa competência